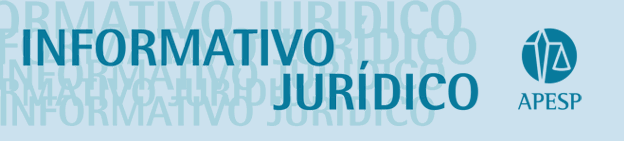
Jul
11
Estatal responde por funcionário terceirizado
Uma empresa pública não pode contratar funcionários terceirizados para cujas funções exista concurso público. Mesmo assim, quando uma companhia da administração pública tiver força de trabalho terceirizada, ela é responsável pelos atos ilegais de seus funcionários.
Com esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça condenou a Companhia de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul no caso de uma indenização movida por uma consumidora. Segundo os autos do processo, um funcionário terceirizado da empresa foi até a casa do pai da autora para cortar o fornecimento de luz por inadimplência. Segundo a mulher, o funcionário a ofendeu com expressões racistas e lhe deu dois socos no pescoço.
A companhia alegou que não era parte legítima do processo porque o suposto agressor era um prestador de serviços, sem vínculos empregatícios. Para a relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, no entanto, a empresa gaúcha tem responsabilidade sobre o caso, já que o homem foi à casa do pai da vítima em nome da Companhia de Energia Elétrica do RS – com base no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal.
O julgamento, do Recurso Especial 951.514, fixou jurisprudência no STJ quanto à terceirização de funcionários por empresas públicas. O mesmo entendimento foi aplicado ao caso de uma transportadora, contratada por uma empreiteira. Uma das rodas de um dos caminhões da companhia terceirizada se soltou e atingiu um pedestre. Daquela vez, no entanto, a construtora não foi responsabilizada.
A Corte entendeu que a empreiteira contratou a transportadora, e não seus funcionários. Portanto, não poderia ter qualquer responsabilidade sobre o motorista, ou os mecânicos, do ônibus de cuja roda se soltou. Poderia ser argumentado que a escolha da empresa de transportes não foi bem feita, mas a tese nunca foi proposta.
O entendimento do STJ é importante dado o crescimento da força de trabalho terceirizada dentro das empresas públicas. Segundo dados do Sindprestem, sindicato das empresas que prestam serviços terceirizados, no ano passado, foram registrados 8,2 milhões de trabalhadores terceirizados em todos os ramos da economia. As informações são da Assessoria de Imprensa do STJ.
Fonte: Última Instância, de 4/07/2011
Decisão do TJ-SP exige inscrição de defensor na OAB
Contrariando acórdão recente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador Jacob Valente mandou que um defensor público regularizasse sua inscrição junto à Ordem dos Advogados do Brasil. A decisão monocrática negando a capacidade postulatória do defensor público não inscrito é do dia 25 de maio.
Para o desembargador, o defensor não inscrito está impedido de praticar atos privativos de advogados, de acordo com a Lei Federal 8.906/1994.
Em Agravo de Instrumento, o defensor contestava a negativa do juiz de primeira instância em fixar previamente honorários relativos à sua nomeação como curador especial. Porém, um ofício enviado ao tribunal pela seccional paulista da OAB avisava que o defensor não estava inscrito na entidade.
Valente ainda determinou que o juiz da causa, que admitiu a subida do recurso, providenciasse a regularização da representação processual do defensor público.
Para o presidente da OAB SP, Luiz Flávio Borges D'Urso, a decisão é "absolutamente razoável e acertada, uma vez que a capacidade postulatória decorre exclusivamente da inscrição nos quadros da OAB". Segundo ele, ao não estar inscrito na Ordem, o defensor público perde a condição de advogado e não pode peticionar juridicamente.
A decisão divergiu de acórdão divulgado pelo ConJur em maio, no qual o TJ-SP, em situação semelhante, concedeu a um defensor público o direito de exercer a profissão sem estar inscrito na OAB, o que dividiu opiniões. Para a Associação Paulista dos Defensores Públicos (Apadep), a decisão abriu um precedente. Já para a OAB paulista, o entendimento se deu incidentalmente em ação que tratava de outro assunto. A entidade afirma que a Justiça estadual não tem competência para julgar a questão.
Na ação que resultou no acórdão, um advogado de Araçatuba (SP) pedia ao tribunal que declarasse nula a atuação do defensor, pelo fato de ele estar desvinculado da OAB. Os desembargadores da 5ª Câmara de Direito Privado do TJ-SP fizeram justamente o contrário. Amparando-se na Lei Complementar 132, de 2009, que modificou a Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública, concordaram, seguindo voto do relator Fabio Tabosa, que “a capacidade postulatória do defensor público decorre exclusivamente de sua nomeação e posse em cargo público”.
Em nota, a Defensoria Pública de São Paulo reforçou o argumento usado pelo desembargador: "A decisão é um precedente importante, pois reconhece o respaldo legal decorrente da Lei Complementar 132 de 2009 que, ao alterar a Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública (Lei Complementar 80 de 1994), prevê que a capacidade postulatória do defensor público decorre exclusivamente de sua nomeação e posse no cargo público".
Fonte: Conjur, de 4/07/2011
Tribunais garantem acesso a documentos do poder público
Enquanto defensores do sigilo eterno de documentos oficiais seguram a tramitação, no Senado, do projeto que cria a Lei de Acesso à Informação, o Judiciário virou refúgio de quem tenta obter dados governamentais mantidos em segredo. Decisões recentes de tribunais obrigam políticos, empresas públicas e órgãos governamentais a divulgar informações requisitadas por organizações, empresas, partidos políticos e cidadãos comuns.
Os dados solicitados envolvem assuntos tão diversos como licitações, concessão de benefícios fiscais, estatísticas sobre educação, presença de parlamentares em sessões legislativas e gastos com salários e publicidade oficial. Há situações mais prosaicas, como um caso de Cerquilho, no interior paulista, em que a prefeitura se recusou a fornecer detalhes sobre a construção de um matadouro e o assunto foi levado à Justiça.
O argumento de quem recorre ao Judiciário é o artigo 5º, inciso 33, da Constituição Federal. O texto diz que "todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse coletivo ou geral". A norma prevê, no entanto, a promulgação de uma lei para regulamentar prazos e procedimentos para liberar esses dados.
Como a Lei de Acesso à Informação ainda não foi promulgada, o direito de acessar dados oficiais ficou à mercê da boa vontade dos políticos. Diante da dificuldade em obter informações, os autores desses pedidos passaram a buscar o Judiciário. É o caso da Associação dos Amigos de Januária (Asajan), uma organização de combate à corrupção nos municípios do Norte de Minas, que vem usando, como estratégia, o ingresso de ações judiciais para conhecer dados governamentais. As informações servem para embasar medidas cobrando a regularidade de atos administrativos.
Algumas decisões judiciais entendem que os papéis produzidos e guardados pelos governos são públicos e, como tal, devem ser divulgados de forma ampla. Em Miravânia, no Norte de Minas, a juíza Maria Beatriz Biasutti obrigou a prefeitura a exibir a relação de todos os servidores municipais e ocupantes de cargos de comissão, descritos por nome, função, salário, controle de ponto e grau de parentesco com os políticos eleitos.
Mas nem sempre os magistrados se posicionam em prol da transparência. "Com o vácuo legislativo, cada juiz decide como quer", afirma Fábio Oliva, da Asajan. No caso de Cerquilho, uma decisão recente do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) negou um pedido de informações sobre a construção de um matadouro municipal. O autor do processo havia justificado que os dados poderiam embasar uma ação popular pedindo o ressarcimento, aos cofres municipais, de eventuais gastos irregulares. Mas a 11ª Câmara de Direito Público declarou que o acesso a dados públicos é "juridicamente limitado" e não vigora, no Brasil, o que os desembargadores chamaram de "sistema do "open file" (arquivo aberto) administrativo".
O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Ophir Cavalcante, critica a ideia de que o "sistema de arquivo aberto" não vigora no país. "É um posicionamento equivocado", afirma. "A Constituição Federal estabelece de forma muito clara o direito de qualquer cidadão ter acesso às informações que o poder público detém. Essas caixas pretas têm que acabar." A OAB discute a matéria no Supremo Tribunal Federal (STF), em uma ação pedindo que sejam declaradas inconstitucionais duas leis que permitem o sigilo eterno dos documentos oficiais. A OAB quer derrubar o artigo 23, parágrafos 2º e 3º, da Lei nº 8.159, de 1991, e a íntegra da Lei nº 11.111, promulgada no fim de 2005.
Um dos primeiros precedentes sobre o assunto no Judiciário tratava de uma questão ainda cercada de sigilo: a guerra fiscal. Na década de 90, no Paraná, a oposição processou o então governador Jaime Lerner para obter informações sobre benefícios fiscais concedidos à Renault, que levaram a montadora a instalar-se no Estado. Partidos e parlamentares alegaram que o acordo beneficiando a empresa teria que ser previamente analisado pela Assembleia Legislativa, pois poderia prejudicar o Estado. A 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), decidiu, então, obrigar o governo a divulgar informações sobre os benefícios fiscais.
Mais recentemente, em setembro, a mesma turma do STJ obrigou a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) a exibir documentos sobre um processo licitatório, requeridos por um estudante de sociologia que suspeitava de irregularidades no procedimento. "A licitação é regida pela publicidade dos atos", afirmou o relator do processo no STJ, ministro Mauro Campbell Marques, ao decidir em favor do estudante. Segundo o advogado Renato Dantés Macedo, que atuou na causa, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) havia negado pedidos de exibição de documentos, nesse caso e em outros semelhantes, envolvendo licitações da Copasa.
O Supremo Tribunal Federal ainda não analisou, em plenário, a abrangência do direito de acesso a informações públicas. Mas já há manifestações individuais de ministros, como uma liminar do ministro Marco Aurélio que obrigou a Câmara dos Deputados a divulgar gastos dos parlamentares com verbas indenizatórias, em ação movida pelo jornal Folha de S. Paulo. "Já conseguimos diversas decisões favoráveis", diz a advogada da Folha, Taís Gasparian. "Mas se o Brasil tivesse uma lei de acesso a informações, não precisaríamos entrar com ações judiciais."
Fonte: Valor Econômico, de 4/07/2011
STJ enfrenta questões envolvendo trabalhadores terceirizados dentro e fora do serviço público
O mercado de trabalho brasileiro registrou 8,2 milhões de trabalhadores terceirizados em 2010, segundo pesquisa do Sindeprestem, o sindicato que representa as empresas prestadoras de serviços a terceiros. Atuando nos mais diversos segmentos da economia, nos setores público e privado, esses prestadores de serviços são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Quando essas normas são violadas e o litígio entre empregado e empregador vai parar nos tribunais, cabe à Justiça do Trabalho resolver a questão. Contudo, quando o conflito envolvendo terceirizados extrapola as relações de trabalho e invade outras áreas do Direito, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pode ser acionado. Confira os principais casos.
Cadastro de reserva x terceirizados
Candidatos aprovados em concurso público têm direito à nomeação se demonstrarem a existência de trabalhador temporário exercendo a função para a qual concorreram? O STJ entende que o direito líquido e certo à nomeação só ocorre quando o candidato for aprovado dentro do número de vagas oferecidas no edital do certame.
O Tribunal já havia decidido que a administração pública não pode contratar funcionários terceirizados para exercer atribuições de cargos para os quais existam candidatos aprovados em concurso público válido, dentro do número de vagas oferecidas em edital. Nesses casos, os candidatos têm direito líquido e certo à nomeação.
A controvérsia persistiu quanto à ocupação precária dessas vagas enquanto houvesse candidatos aprovados em concurso fora das vagas previstas. No ano passado, a Terceira Seção decidiu, por maioria de votos, que a nomeação dos aprovados nesses casos não é obrigatória.
A tese foi fixada no julgamento de um mandado de segurança impetrado por diversos candidatos aprovados para o cargo de fiscal federal agropecuário. A maioria dos ministros entendeu que não é a simples contratação temporária de terceiros no prazo de validade do certame que gera direito subjetivo do candidato aprovado à nomeação. “Impõe-se que se comprove que essas contratações ocorreram, não obstante existissem cargos de provimento efetivo desocupados”, explicou o ministro Arnaldo Esteves Lima, relator do processo (MS 13.823).
A hipótese foi tratada novamente no início de 2011, em um julgamento na Primeira Turma. Uma candidata aprovada em terceiro lugar para o cargo de fisioterapeuta da Polícia Militar de Tocantins foi à Justiça para ser nomeada. Como foram oferecidas apenas duas vagas, ela ficou em cadastro de reserva. A candidata alegou que tinha direito à nomeação porque a administração pública necessitava de mais servidores, o que ela demonstrou apontando a existência de funcionário terceirizado exercendo a função.
O relator do caso, ministro Humberto Martins, explicou que a existência de trabalho temporário não abre a possibilidade legal de nomeação, pois não ocorre a criação nem a desocupação de vagas. Segundo a jurisprudência do STJ, o candidato inscrito em cadastro de reserva possui mera expectativa de nomeação, que passa a ser um direito somente após a comprovação do surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso. (AgRg no RMS 32.094)
Em outro processo semelhante, no qual se discutia a nomeação de professores do ensino fundamental em Mato Grosso, a Segunda Turma decidiu que a contratação temporária fundamentada no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, não implica necessariamente o reconhecimento da existência de cargos efetivos disponíveis. “Nesses casos, a admissão no serviço ocorre não para assumir um cargo ou emprego público, mas para exercer uma função pública marcada pela transitoriedade e excepcionalidade, devidamente justificada pelo interesse público”, afirmou o relator do caso, ministro Castro Meira. (RMS 31.785)
Competência
Chegam frequentemente ao STJ dúvidas quanto ao foro competente para julgar determinadas ações envolvendo trabalhadores terceirizados: a justiça trabalhista ou a justiça comum. Essas questões são resolvidas no processo denominado conflito de competência.
A Emenda Constitucional (EC) 45, de 2004, atribuiu à Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Essa competência também incluiu as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho e as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações trabalhistas.
Essa orientação atingiu todos os processos em trâmite na Justiça comum estadual que ainda estavam pendentes de julgamento de mérito. Porém, se a decisão de mérito tiver sido proferida pelo juízo comum antes da mudança, fica mantida a competência recursal do tribunal comum.
Em outras palavras: as ações que tramitam perante a Justiça comum dos estados, com sentença de mérito anterior à promulgação da EC 45/04, lá continuam até o trânsito em julgado e sua execução. Quando não houver apreciação de mérito, a ação deve ser remetida à justiça trabalhista, no estado em que se encontram, com total aproveitamento dos atos praticados até então (CC 71.604, CC 82.432, REsp 956.125).
Responsabilidade Civil
Empresa pública ou prestadora de serviço público que utiliza força de trabalho terceirizada é responsável pelos atos ilícitos cometidos por funcionário terceirizado. Seguindo essa jurisprudência consolidada no STJ, a Terceira Turma manteve a Companhia de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul no pólo passivo de uma ação de indenização movida por uma consumidora.
Segundo os autos, um funcionário terceirizado da empresa foi à residência do pai da autora da ação para efetuar o corte de energia por inadimplência. A moça afirmou que o terceirizado a ofendeu com expressões racistas e deu-lhe dois socos no pescoço. A companhia energética alegou que não era parte legítima no processo porque o agressor era funcionário de empresa que presta serviços terceirizados.
A ministra Nancy Andrighi, relatora do caso, ressaltou que o funcionário foi à residência do pai da vítima em nome da companhia energética, atuando na qualidade de seu preposto. Trata-se de responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, conforme prevê o parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal (REsp 904.127).
Ao julgar recurso especial em uma ação de indenização decorrente de acidente em agência bancária, a Terceira Turma manteve a condenação do Banco Bradesco a indenizar um policial militar que levou um tiro de um vigilante terceirizado do banco. O Bradesco alegou que não poderia ser responsabilizado pelo acidente por ausência de culpa. Sustentou que cumpriu a legislação que regula o sistema financeiro e que contratou uma empresa de segurança com tradição no mercado, tomando todas as cautelas possíveis.
Com base na interpretação do artigo 3º da Lei n. 7.102/1983, os ministros do STJ entendem que a responsabilidade pela segurança dentro das agências é imputada à própria instituição financeira, que pode promovê-la com pessoal próprio, desde que treinado, ou mediante terceirização. Dessa forma, o banco e a empresa prestadora do serviço de vigilância são solidariamente responsáveis pelos danos causados pelo funcionário (REsp 951514).
Em outra ação de indenização por danos morais e materiais, não ficou demonstrada a responsabilidade do contratante do serviço terceirizado. Uma construtora contratou uma empresa para transportar seus funcionários. Durante a prestação do serviço, uma peça do ônibus em movimento atingiu um pedestre que estava no acostamento.
O STJ manteve decisão que afastou a responsabilidade objetiva da construtora devido à ausência da relação de preposição entre as empresas ou entre o motorista do ônibus e a construtora. Ou seja, quem contratou não exercia comando hierárquico sobre o preposto da terceirizada. Segundo a jurisprudência da Corte, o tomador de serviço somente será objetivamente responsável pela reparação civil dos atos ilícitos praticados pelo funcionário terceirizado quando houver entre eles uma relação de subordinação.
Existe a possibilidade de responsabilizar a contratante do serviço terceirizado por escolher mal a empresa prestadora. É a chamada culpa in eligendo. No caso da construtora e da empresa de transporte, essa tese não foi discutida. Mas em outro processo, o STJ manteve o dever de indenizar imposto a uma instituição de ensino por danos causados por funcionário da empresa de segurança que contratou sem tomar os devidos cuidados (REsp 1.171.939, AgRg no Ag 708.927).
Previdência
Em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.131.047), a Primeira Seção do STJ consolidou a tese de que, após a vigência da Lei n. 9.711 (que alterou a Lei. 8.212/91), “a empresa contratante é responsável, com exclusividade, pelo recolhimento da contribuição previdenciária por ela retida do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, afastada, em relação ao montante retido, a responsabilidade supletiva da empresa prestadora, cedente de mão de obra”.
Segundo a interpretação do STJ, a Lei n. 9.711 instituiu a responsabilidade pessoal do tomador dos serviços de mão de obra pelas contribuições previdenciárias, mediante um sistema de substituição tributária: o contratante dos serviços, ainda que em regime de trabalho temporário, ficou obrigado a reter 11% do valor da nota fiscal ou fatura e recolher a importância retida em nome da empresa cedente da mão de obra.
A Primeira Turma também decidiu que, mesmo antes da Lei n. 9.711/98, o INSS podia cobrar as contribuições relativas a trabalhadores terceirizados da empresa em que eles executavam suas tarefas, em vez daquela que os registrava como empregados e cedia sua mão de obra mediante contrato de prestação de serviços. (REsp 719.350 e REsp 1.131.047).
Fonte: site do STJ, de 4/07/2011
O Supremo legislador
O Poder Judiciário não se cansa de mandar recados ao Poder Legislativo recitando a máxima latina si vis pacem para bellum (se queres a paz, prepara-te para a guerra). O alerta quer significar que os legisladores, para preservarem os princípios da harmonia e da independência entre os Poderes, estatuídos na Carta Magna, precisam fazer a lição de casa e enfrentar a batalha de elaborar as leis necessárias para garantir a normalidade das relações sociais, econômicas e políticas no País. O mais recente recado foi a decisão do STF de que fixará as regras sobre o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço prestado pelo trabalhador. O inciso XXI do artigo 7.º da Constituição, que trata desse tema, aguarda regulamentação há 23 anos. Como o poder não admite vácuo, a Corte o tem preenchido com farta legislação judicial. Chegou até a abrir espaço em seu site para as omissões inconstitucionais, o que pode ser interpretado como puxão de orelha nos parlamentares.
Essa questão do aviso prévio, que começa a ser analisada pelo Supremo por demanda de quatro funcionários do Grupo Vale, abre expectativas pelas consequências que deve gerar para o setor produtivo. O receio é que o Judiciário, ao interpretar a Constituição, acabe alargando os prazos para trabalhadores com muitos anos de casa (hoje o aviso prévio é de 30 dias), o que causaria impacto econômico de vulto e tornaria inviáveis pequenos e médios empreendimentos. Seja qual for a decisão a ser tomada, o que chama a atenção é a incapacidade do Legislativo de preencher as lacunas abertas pela Carta de 1988. De lá para cá, publicaram-se 4.813 leis ordinárias e 80 leis complementares, mas há ainda 126 dispositivos constitucionais que esperam por regulamentação, alguns vitais para a clarificação de direitos e deveres de cidadãos e empresas.
A questão central é: deve o STF entrar no terreno legislativo ou só informar às Casas congressuais sobre suas omissões? É oportuno lembrar que o Supremo só age quando acionado. Sua missão precípua é interpretar a Constituição ante a falta de clareza ou inexistência de leis que detalhem normas sobre os mais diversos assuntos de interesse social. Observa-se que os magistrados, de um comportamento mais cauteloso nos idos de 90, quando apenas comunicavam ao Parlamento a falta de leis, passaram a produzir regras, deixando o desconforto de lado. Nos últimos tempos, sob o empuxo de demandas da sociedade civil, capitaneadas por organizações de intermediação, o STF reposicionou-se no cenário institucional, tomando decisões de impacto, e sem se incomodar com críticas sobre invasão do território legislativo. Nessa direção se incluem decisões por omissão inconstitucional em áreas como aposentadoria especial (decorrente de trabalho insalubre), direito de greve no serviço público, criação de municípios e criação de cargos no modelo federal. No caso do direito de greve, a decisão foi a de se aplicarem ao funcionalismo as mesmas regras para o setor privado, mas em certas áreas do serviço público a manutenção de um mínimo de 30% das atividades (previstas para as empresas) é inadequada, como é o caso de hospitais públicos.
A perplexidade expande-se. Por que os parlamentares, tão afeitos à produção legislativa, deixam de fora de sua agenda a regulamentação de dispositivos importantes da Constituição? A resposta aponta para a falta de consenso. Veja-se a bomba que está prestes a explodir no Congresso: a Emenda 29, de 2000, fixando porcentuais mínimos para gastos na área de saúde. Estados devem destinar 12% e municípios, 15%. Aguarda-se há dez anos! Ora, o Executivo teme que o saldo da conta negativa acabe batendo em seus cofres. Além de emendas já aprovadas carecendo de regulamentação, há projetos de efeitos devastadores, como a PEC 300, que cria o piso salarial para as Polícias Civil, Militar e os bombeiros. As duas matérias representam impacto de R$ 58 bilhões, montante que rasparia os cofres públicos. Portanto, os parlamentares sentem-se entre a cruz e a caldeirinha: de um lado, comprimidos por demandas da sociedade e, de outro, confinados aos parâmetros das políticas econômica e fiscal do governo. No meio do cabo de guerra emerge a miragem de um pacto federativo, que não passa de promessa retórica. Compromissos, acordos e obrigações entre União, Estados e municípios são precários e desmontam o escopo da unidade. Não por acaso, a propalada reforma tributária é um marco divisor de interesses.
Chega-se, assim, ao centro do argumento aqui suscitado: a legislação judicial aparece no vácuo da legislação parlamentar. Não há, nesse caso, transgressão ao princípio democrático de que o representante eleito pelo povo é quem detém o poder de legislar? Em termos, sim. Mas a questão pode ter outra leitura. A construção de uma sociedade livre, justa e solidária, conforme preceitua a Constituição, se assenta na preservação dos direitos individuais e coletivos. E os princípios da autonomia, harmonia e independência dos Poderes, sob sistemas políticos em processo de institucionalização, ganham certa frouxidão. Compreende-se, assim, a interpenetração de funções dos Poderes do Estado. Importa, sobretudo, que eles estejam conscientes de seus deveres e omissões. E tocados pela chama cívica que Thomas Paine acendeu no clássico Os Direitos do Homem. "Quando alguém puder dizer em qualquer país do mundo: meus pobres são felizes, nem ignorância nem miséria se encontram entre eles; minhas cadeias estão vazias de prisioneiros, minhas ruas de mendigos; os idosos não passam necessidades, os impostos não são opressivos... quando estas coisas puderem ser ditas, então o país deve se orgulhar de sua Constituição e de seu governo."
Gaudêncio Torquato - JORNALISTA, É PROFESSOR TITULAR DA USP E CONSULTOR POLÍTICO E DE COMUNICAÇÃO
Fonte: Estado de S. Paulo, Opinião, de 3/07/2011
"Advocacia pública jamais pode ser imparcial"
Recentemente, uma pesquisa do Conselho Nacional de Justiça comprovou o óbvio: o poder público é o grande vilão do Judiciário quando se trata da montanha de processos. Das 86,5 milhões de ações tramitando, um quarto se deve a uma lista de apenas 100 autores e réus. Só a União é responsável por 38% desses casos. Bancos, categoria encabeçada pela Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, em que o governo federal é o principal sócio, ficam em segundo lugar, com outros 38%. Mas se as instituições financeiras têm ao seu lado um exército de advogados privados atuando em contencioso de massa, a União conta com apenas 8 mil procuradores federais em todo o país, sobrecarregados com as tarefas de defender o patrimônio público, dar pareceres sobre todo o tipo de questão jurídica e administrativa e correr atrás de devedores do fisco.
O resultado não poderia ser outro. Sem tempo para analisar adequadamente os casos, apertados pelas cobranças dos chefes e pela Lei de Improbidade Administrativa, os procuradores adotam a regra de recorrer sempre. Sob tanta pressão, é até mesmo desnecessário lembrar da indisponibilidade do dinheiro público. Levar qualquer processo até a última instância é praxe.
Mas não é só com processos que os membros da Advocacia-Geral da União se preocupam ultimamente. É cada vez mais comum o Judiciário expedir ordens de prisão contra procuradores federais por descumprimento de decisões judiciais pela administração pública. A frequência levou o presidente da União dos Advogados Públicos Federais do Brasil, uma das entidades que representa a classe, a bater à porta do Conselho Nacional de Justiça. Luis Carlos Palacios propôs à corregedora nacional de Justiça, ministra Eliana Calmon, que o órgão recomende moderação aos magistrados.
“O juiz pode ordenar multa diária contra o ente e até contra o gestor, e mandar cópia dos autos ao Ministério Público, ao Conselho de Ética da Presidência da República e à Controladoria-Geral da União. Mas prender o procurador é uma forma de coerção”, diz em entrevista à ConJur.
O presidente da Unafe tentará até o fim do ano que vem, quando termina seu mandato, objetivos nada simples. O primeiro é convencer o Supremo Tribunal Federal de que a dupla vinculação dos procuradores à AGU e aos ministérios é inconstitucional, o que combate por meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade. A outra, ainda mais complicada, é garantir que os desejados cargos comissionados de consultoria nos órgãos federais são de exclusividade de advogados concursados, e não de convidados do governo. A celeuma divide opiniões. Quando era advogado-geral da União, o ministro José Antônio Dias Toffoli estipulou a exclusividade — regra derrubada na sequência por seu sucessor, Luís Inácio Lucena Adams, atual chefe do órgão.
As entidades da classe tiveram ainda de assistir de longe a elaboração do projeto de lei complementar que vai dar nova cara à advocacia pública federal. A nova lei orgânica da AGU, que promete dar mais discricionariedade aos procuradores e resolver o problema das prisões, está em estudo na Secretaria da Casa Civil da Presidência da República, e lá chegou sem qualquer opinião dos representantes da categoria.
Com apenas 30 anos, Palacios está há seis na carreira, o que diz dever ao ministro Dias Toffoli. “Tomei posse em 2005, no fim da gestão anterior à do ministro, mas estava esperando outro concurso”, conta. “O horizonte era bem negro.” Segundo ele, as medidas de valorização da carreira tomadas pelo então advogado-geral motivaram a permanência. Antes de assumir o comando da Unafe, Palacios foi assessor no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, depois procurador em Campinas (SP) e subchefe da Procuradoria Seccional da União em Santos (SP).
Leia a entrevista:
ConJur — As prisões de advogados públicos quando gestores descumprem ordens judiciais começa a causar apreensão. Como enfrentar isso?
Luis Carlos Palácios — Apresentamos essa reclamação à ministra Eliana Calmon, corregedora do Conselho Nacional de Justiça. Estivemos também com o conselheiro Jorge Hélio, que concordou conosco. Queremos que o CNJ faça uma recomendação aos magistrados, para que distingam o advogado público do órgão que ele representa. Ao advogado cabe apenas cientificar, diligenciar, mediante expedição de documentos, atos formais, avisando ao gestor de que há ordem judicial para cumprimento. Não se quer tolher o poder dos magistrados. Mas em caso julgado recentemente, uma colega chegou a colocar trajes de prisioneira. A associação está sendo obrigada a pedir diversos Habeas Corpus, inclusive preventivos. O juiz pode ordenar multa diária contra o ente e até contra o gestor, e mandar cópia dos autos ao MP, ao Conselho de Ética da Presidência da República e à Controladoria-Geral da União. Mas prisão é uma forma de coerção. Soubemos na Casa Civil que o projeto de Lei Orgânica da AGU trata do assunto. Além disso, o crime de desobediência é de menor potencial ofensivo, conforme a Lei 9.099/1995. Por crime de menor potencial ofensivo, ninguém vai preso. O máximo que pode acontecer é entrar em uma delegacia e comparecer a uma audiência. Recentemente, o STF julgou Reclamação de um associado nosso, reconhecendo que não cabe a advogado público pagar multa diária de R$ 1 mil por descumprimento de decisão judicial. Isso é ilegal.
ConJur — Pesquisa recente do Conselho Nacional de Justiça comprovou que o Estado é o principal responsável pelas milhões de ações que entopem o Judiciário. O que a AGU pode fazer para resolver o problema?
Luis Carlos Palácios — Inicialmente, é preciso mudar a cultura dos órgãos públicos de que, na dúvida, a resposta é não. Isso acontece muito, por exemplo, em relação a pedidos de benefício previdenciário no INSS. O correto é que o órgão, na dúvida, encaminhe o processo a um procurador federal, para análise. No INSS, essa prática já redundou na queda do índice de discussões judiciais de benefícios. Hoje, há muito mais concessões administrativas e menos repercussões em juízo. A atuação é conjunta do INSS e da AGU.
ConJur — É possível que um procurador seja punido por não recorrer, e tenha de ressarcir valores?
Luis Carlos Palácios — É claro. Uma perda de prazo pode ser uma prevaricação. Mas deveria haver na lei orgânica que dispositivo que esclarecesse os objetivos a serem alcançados pela advocacia pública, com regramentos para que se fundamentasse o deixar de recorrer. Hoje, é conturbado, dificultoso. Devido à falta de estrutura, o advogado recorre.
ConJur — Que discricionariedade tem o procurador de recorrer ou não em um processo?
Luis Carlos Palácios — Do ponto de vista legal, não há nenhum regramento que obrigue o procurador a recorrer. A lei complementar obriga apenas a seguir as súmulas e pareceres do advogado-geral da União. Em todo o resto, há autonomia. Mas cá entre nós, o que é mais fácil: o concursado, que lutou para conseguir aquele cargo público, diante da dúvida, recorrer ou deixar de recorrer? Ele tem o dever de fundamentar todos os seus atos, mas o regramento é complexo. Se decidir não recorrer, submete a intenção ao chefe, que manda para o procurador-regional da União, que precisa dar o aceite, e se ficar na dúvida, repassa ao procurador-geral da União. Isso gera uma agonia. Por isso, na dúvida, recorremos. O que a gente defende é que o advogado público, em todas as carreiras, tenha autonomia para resolver causas de até 60 salários mínimos. A não ser que o processo envolva erro. Teria que ser criado um colégio de procuradores que analisaria, por e-mail, a tese administrativa em discussão. Isso permitiria a formação de consensos em todo o país, e decisões mais rápidas. A regra passaria a ser não recorrer.
ConJur — Como isso funcionaria?
Luis Carlos Palácios — Por que não criar nas três carreiras da procuradoria balcões de atendimento para o cidadão? Em casos de acidente de carro, por exemplo. Na Justiça Federal, se um carro oficial bate no de um particular, o dono precisa entrar com uma ação para ser ressarcido. Ela vai passar pelas três instâncias, e pode chegar até ao STF. Com o aumento do valor causado pelos juros de mora, o pagamento não poderá mais ser feito por requisição de pequeno valor, e entra na fila dos precatórios. Seria diferente nos balcões de atendimento. O sujeito apresenta o boletim de ocorrência, testemunhas e três orçamentos para o conserto. O procurador faria um parecer com base na jurisprudência, submete à chefia regional e reconhece o direito. Em um ano, se resolveria um problema que deixaria de abarrotar o Judiciário. Para que pagar juros de mora de 15 anos?
ConJur — Um dos projetos de lei de autoria do ministro Adams dá ao procurador federal a possibilidade de transacionar. Ajudaria?
Luis Carlos Palácios — O procurador pode transacionar, mas a Lei 9.457 prevê algumas vedações, como em casos patrimoniais ou acima de certo valor. Mas isso é um juízo. O que proponho não é um juízo.
ConJur — E como superar a indisponibilidade do bem público?
Luis Carlos Palácios — Nesses balcões, seria possível transacionar até mesmo em causas tributárias. Tudo é dinheiro público. Se houve um erro no Imposto de Renda e o cidadão diz que a cobrança está errada, pode levar os documentos que comprovam e acabou. O fato de o crédito ser indisponível não obriga a se recorrer de tudo. Se o procurador reconhece que há um equívoco, o dinheiro é da pessoa. Se não foi o carro da Justiça Federal quem bateu e sim o motoqueiro, aí o dinheiro é indisponível. A advocacia pública tem que reconhecer o que é de cada um. Na área tributária, esse procedimento seria feito durante o processo administrativo.
ConJur — A advocacia pública deve defender o Estado ou o governo?
Luis Carlos Palácios — Nós temos uma Ação Direta de Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal que trata disso, ao buscar a declaração de inconstitucionalidade de dois dispositivos da nossa Lei Complementar 73/1993. Esses dispositivos falam da subordinação das consultorias jurídicas e dos procuradores da Fazenda Nacional a ministros de Estado. Não é nem ao Ministério da Fazenda, por incrível que pareça. É ao ministro da Fazenda, nos termos do artigo 11 e 12 da lei complementar.
ConJur — Os procuradores e consultores acabam tendo dois chefes?
Luis Carlos Palácios — Em última análise, é isso. A vinculação direta do advogado público ao Poder Executivo, nos termos do que está na lei complementar, limita a independência técnica e profissional. Tendo em vista a indisponibilidade do interesse público, ela deve ser limitada mas mediante mecanismos democráticos, como edições de súmulas e pareceres pelo advogado-geral da União, que é o chefe da nossa instituição. Jamais pela estrutura do Poder Executivo.
ConJur — Por que a dupla vinculação seria inconstitucional?
Luis Carlos Palácios — Temos um parecer feito gratuitamente pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello para a nossa ADI, que demonstra que a Constituição prevê a Advocacia-Geral da União em tópico apartado, como instituição especial da Justiça. Foi uma grande vitória conseguir um parecer de um jurista como o professor Celso Antônio. A premissa básica da nossa ação é tripartição do poder feita pela Constituição. Porém, em capítulo apartado — e isso tem relevância no direito, a topografia —, se disciplina a advocacia pública. A Advocacia-Geral da União representa a União e parte de todo o Poder Executivo. A única vinculação é que temos exclusividade na assessoria jurídica para o Executivo. Representamos os poderes Legislativo e Judiciário em juízo. Você nunca vai ver um Tribunal Regional Federal como parte. Precedente recente do Supremo Tribunal Federal em relação ao TRF da 3ª Região considerou indevida a contratação de advogado particular para defender a presidente do TRF. Não se pode, pelo princípio da tripartição de poderes, aceitar que uma instituição seja do Poder Executivo e represente o Legislativo e o Judiciário juntos.
ConJur — Seria possível uma Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional desvinculada do Ministério da Fazenda?
Luis Carlos Palácios — Por que ela tem de ser vinculada? Juridicamente, ela é vinculada à AGU. O professor Bandeira de Mello deixa isso claro ao afirmar que a Advocacia-Geral da União é uma instituição una. Como pode ter dois chefes? Na carreira de procurador da Fazenda Nacional, não há diferença entre consultivo e contencioso. Então, essa subordinação é ainda mais perigosa, porque o mesmo advogado faz o contencioso e o consultivo. A carreira é dividida em consultivo e o contencioso. O contencioso é o próprio processo judicial, e o consultivo só faz pareceres e analisa licitações de diversos órgãos. Quando tomei posse na AGU, fui para o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, em uma consultoria jurídica. Em Brasília, as consultorias jurídicas ficam atreladas ao órgão do Executivo. Quando entrei na carreira, ganhei uma funcional da AGU, mas também ganhei uma do MDIC, por incrível que pareça.
ConJur — Isso não permite que os advogados se especializem na área para a qual trabalham?
Luis Carlos Palácios — O fato de estar na mesma estrutura não quer dizer necessariamente especialização. Hoje, na estrutura da AGU, há especialidades como o G-Copa, que cuida da Copa do Mundo, o G-PAC, que cuida do PAC, e o grupo de elite na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que só cuida das grandes teses contra grandes devedores. Há também um grupo da Procuradoria-Geral da União que só cuida de improbidade administrativa e execuções do Tribunal de Contas da União. São especialidades dentro da carreira sem a necessidade de que haja inserção na estrutura de outro órgão ou vinculação a outra chefia, que pode inclusive interferir no desempenho das funções do advogado.
ConJur — A função da advocacia pública não é defender as decisões da administração?
Luis Carlos Palácios — Cada advogado público contribui para as políticas governamentais, e isso não é advocacia de governo, é advocacia de Estado. Políticas governamentais, como obras para a Copa do Mundo, para as Olimpíadas, por exemplo, devem ocorrer independentemente do governante, não se confunde com advocacia de governo. O que essa dupla estruturação hoje permite é a realização de pareceres sob encomenda, submetidos ao alvedrio do órgão gestor, e a usurpação das atribuições do advogado público concursado.
ConJur — Que usurpação?
Luis Carlos Palácios — Hoje, 35% dos cargos de advogado público nas consultorias jurídicas dos Ministérios são comissionados. O sujeito não fez concurso público e é alçado à condição de membro da AGU, submetido à nossa lei complementar.
ConJur — O advogado-geral da União, que é quem dá a última palavra inclusive em questões jurisdicionais na AGU, não precisa ser de carreira. Não é contraditório que se exija que o órgão tenha sangue puro?
Luis Carlos Palácios — Não há na Constituição regramento específico determinando que o advogado-geral da União seja de carreira, mas ele tem status de ministro e é de livre exoneração. Para os demais membros, a regra é entrar por concurso público. Não se pode alargar a falta de previsão constitucional em relação ao chefe da instituição a qualquer caso. Isso seria questionar a própria existência da Advocacia-Geral da União. Considerar que uma instituição pública pode ser ocupada por não concursados quebra a regra do artigo 37 da Constituição e seus parágrafos, que dispõe que, para ingressar no serviço público, é necessário concurso público. Defendemos, inclusive, que o advogado-geral seja escolhido entre os membros da instituição, mas isso depende de um trabalho do Legislativo ou de outra ADI.
ConJur — Há alguma medida contra essas nomeações?
Luis Carlos Palácios — Levamos ao Supremo Tribunal Federal a Proposta da Súmula Vinculante 18, que já teve sua procedibilidade deferida pela comissão de jurisprudência da corte. A jurisprudência do Supremo é tranquila no sentido de que, com exceção do cargo de procurador-chefe, os demais cargos devem ser ocupados por concursados, tendo em vista a regra constitucional do concurso público para ingressar na administração. Ponderar que não concursados podem fazer atividades típicas da carreira é o mesmo que aceitar a existência de defensor público, membro do Ministério Público ou juiz não concursado.
ConJur — É possível governar sem advogados comissionados, tendo em vista que todo partido político leva seus quadros quando assume o poder?
Luis Carlos Palácios — Essa é uma premissa utilizada exatamente para justificar essa vinculação, mas é equivocada. Não cabe ao advogado público, em matéria nenhuma, em nenhuma hipótese, discutir o mérito da política governamental. Não somos Ministério Público. Há necessidade de autonomia, mas é uma autonomia limitada. A advocacia pública jamais pode ser imparcial. É uma advocacia do Estado, defende os interesses do Estado. Se a política governamental é boa, ruim, amarela, verde, azul ou vermelha, pouco importa para o advogado público. Jamais vai haver um parecer consultivo discutindo o mérito da decisão do administrador. E somente um advogado oficiado, que não está atrelado de forma comissionada ao gestor, de forma servil, pode ter essa independência. O que o advogado público precisa é saber o seu papel, e isso demandaria até uma proposta de emenda constitucional ou que ficasse bem claro na nossa nova lei orgânica. É inegável que é preciso colocar metas e diretrizes para os advogados públicos, como, por exemplo, sempre lutar pela implementação de políticas governamentais, desde que se coadunem com a Constituição Federal e com a lei. Essa coadunação teria de ser avaliada mediante a análise de doutrina e jurisprudência vigente.
ConJur — Essa avaliação não evita embates como o que envolveu a usina hidrelétrica de Belo Monte.
Luis Carlos Palácios — Belo Monte teve uma grande dissídio. Ali não há uma defesa do mérito da questão. Em juízo, é diferente do consultivo. A questão constitucional é muito perigosa no consultivo. No contencioso, é próprio do advogado ter o poder da dialética, abre-se o leque de teses. As informações virão de um ministro, em uma salinha, e ele goza de presunção de veracidade e legitimidade. Cabe à gente reproduzir. É um técnico quem está me passando os dados. Eu não sou técnico em energia, não posso dizer: “Não, o Brasil pode construir uma usina nuclear.” Todos os atos administrativos devem ser fundamentados. Não cabe ao advogado público fazer esse questionamento.
ConJur — Mas isso vai ser questionado na Justiça.
Luis Carlos Palácios — E quem disse que o Ministério Público Federal tem razão? A ação contra concessões de empresas de rádio e difusão é um exemplo. O Ministério Público Federal diz que é preciso fazer licitação. O governo entende que não. Pegamos as informações do Ministério e estudamos os aspectos jurídicos. Há um indicativo técnico.
ConJur — No que isso difere do trabalho dos comissionados?
Luis Carlos Palácios — No consultivo, é muito perigoso. O não concursado, via de regra, tem o interesse de se manter naquele cargo, atrelado a quem o colocou. E aí, na elaboração dessa política governamental, de pareceres de licitação, por exemplo, pode ficar clara a diferenciação entre a advocacia de Estado e de governo. Quem dá a última palavra é a AGU.
ConJur — Sendo de fora da carreira, o ministro Dias Toffoli, quando foi advogado-geral da União, trouxe benefícios para a carreira. Certo grau de oxigenação nos cargos não faz o mesmo?
Luis Carlos Palácios — Não se pode comparar um cargo que, de acordo com a Constituição é próprio de ministro, com cargos destinados a concursados.
ConJur — E do ponto de vista prático?
Luis Carlos Palácios — Há na AGU um corpo de mais ou menos 8 mil membros concursados. É um dos concursos mais difíceis do país, que ganhou, inclusive, prova oral nos últimos dois anos. O índice de reprovação é altíssimo. Existe uma instituição de caráter constitucional, com pedigree. A Rede Ferroviária Federal foi uma sociedade de economia mista que, depois de extinta, passou para a União. Se você pegar um dos processos envolvendo a empresa e vir as defesas que alguns escritórios particulares fizeram para ela, vai entender do que estou falando. Será que eles fizeram o trabalho melhor do que os advogados do Estado, que têm a Lei de Improbidade sobre suas cabeças e a possibilidade de responder a processo administrativo inclusive com risco de exoneração?
ConJur — Recentemente houve polêmica sobre a contratação de um escritório de advocacia para defender o governo federal na Organização Mundial do Comércio. Esse seria um papel da AGU?
Luis Carlos Palácios — Essa era uma das bandeiras do ministro Dias Toffoli. A União representa todos os entes da Federação internacionalmente. Por isso, essa competência seria da AGU. Mas devido a uma tradição histórica, que não tem fundamento jurídico, a defesa vem sendo feita pelo Itamaraty, que contrata esses escritórios. Isso deveria passar pela AGU, como defendia o ministro Toffoli. Mas seria preciso uma melhoria estrutural no órgão. Mal conseguimos atuar dentro do país, quanto mais fora.
ConJur — Que melhorias são necessárias?
Luis Carlos Palácios — A AGU precisa de investimento muito maior, principalmente em carreiras de apoio, que não existem, é uma colcha de retalhos. Uma carreira de apoio forte é importante principalmente levando em conta as causas bilionárias em que a União é ré. Nesses processos, o advogado faz a defesa do ponto de vista técnico, mas não faz cálculos, pelo que depende do núcleo de cálculos e perícias. Na prática, o advogado se utiliza de cálculos de outras procuradorias. Há uma gama muito intensa de processos distintos em que há necessidade de carreiras de apoio como técnicos em contabilidade e economistas. É um absurdo pensar que se pode perder um processo por erro de cálculo, porque não há uma pessoa competente para fazer isso. A questão salarial também redunda em menor interesse na carreira. Hoje, o vencimento base é de R$ 19,9 mil, mas há problemas de promoção. Vamos contratar um estatístico para fazer um levantamento matemático e levarmos ao advogado-geral para conversar. Dos 305 aprovados no último concurso de procurador federal, a lista caiu para 280, porque 25 já haviam tomado posse em Ministérios Públicos estaduais. A disparidade salarial é gritante, o piso no MP é de R$ 22 mil.
ConJur — Qual a importância da passagem do ministro Dias Toffoli pela AGU?
Luis Carlos Palácios — Foi ele quem começou a tomar atitudes práticas em relação à dupla vinculação, à exclusividade do advogado público na defesa do Estado. Foi ideia dele o programa de redução de demandas e do núcleo da Procuradoria-Geral da União que cuida apenas de ações populares, de improbidade administrativa, possessórias e de execução de créditos do TCU, sempre no polo ativo. Ele não quis saber de desculpas por excesso de trabalho. O problema era que, se o procurador tivesse uma ação de um particular que reclamava de uma batida de um carro oficial cobrando R$ 1 mil, e diversos outros processos de R$ 100 mil, com prazo, nem precisa perguntar o que ele faria primeiro. Mas o ministro determinou que os procuradores sentassem com advogados da União específicos para tratar desses temas. Execução de crédito do TCU seguiu o mesmo caminho. Depois do julgamento de tomada de contas, a AGU notifica o condenado a pagar. Decorrido o prazo, ajuíza ação de cobrança, o que demora. No entanto, foram criados escritórios avançados da AGU na Câmara dos Deputados e no TCU. Hoje é possível antecipar a tomada de bens do sujeito que reiteradamente comete atos de prejuízo ao patrimônio, figuras conhecidas. Tendo o primeiro parecer na tomada de contas do tribunal que dá negativo, já se entra com uma cautelar. Quando transitar em julgado, os bens estão garantidos. Do ponto de vista pessoal, antes de o ministro assumir, eu estava estudando para outra carreira. Entrei na AGU em 2004, tomei posse em 2005, no fim da gestão anterior à do ministro Toffoli, mas estava esperando outro concurso.
ConJur — Vindo da carreira, qual é a importância do ministro Adams?
Luis Carlos Palácios — Ponto positivo é a continuação de alguns dos projetos do ministro Toffoli. Ele firmou acordo com o Senado para a instalação do escritório da AGU lá. Os núcleos de polo ativo continuam atuantes, com independência. Porém, em relação à exclusividade, recuou. O ministro Toffoli baixou a Instrução Normativa 28, segundo a qual, até o fim do seu mandato, seria vedada a ocupação de cargos de assessoria jurídica por estranhos à carreira. O Adams não cumpriu a regra, alegando falta de profissionais. E disse que o órgão precisa de oxigenação. Ele também impulsionou o projeto de Lei Orgânica, mas não abriu o texto para as associações discutirem. A proposta foi toda formatada dentro da AGU, não conhecemos seu teor. Houve uma promessa dele de que haveria encaminhamento de um projeto de lei que cria carreiras de apoio. A data fatal para apresentação é agosto deste ano, senão o projeto não vai ser contemplado em 2012. Ele também não parou o processo de descentralização das procuradorias federais.
ConJur — Ao assumir a chefia da AGU, uma das primeiras atitudes do ministro Luís Inácio Adams foi acabar com as eleições para o comando das procuradorias regionais, instituídas por seu antecessor. A Unafe protestou. A medida não evita a politização de um cargo tão importante?
Luis Carlos Palácios — Quando o ministro Dias Toffoli submeteu a escolha dos nomes aos membros da AGU, apenas limitou os próprios poderes. Ele poderia nomear todos os chefes de cima a baixo. Ele não transmitiu esse encargo aos membros, mas deu poder de consulta. Os três nomes mais votados compunham uma lista, e ele não era obrigado a escolher o primeiro. O atual procurador-regional da União em São Paulo, Gustavo Amorim, foi o segundo mais votado, e trouxe um salto de qualidade gigantesco. De forma alguma houve politização. A consulta pública entre os membros dá maior grau de legitimidade. Você não vai escolher para te representar alguém incompetente. A pessoa que chefia reflete os membros. Além disso, as pessoas se sentem parte integrante da procuradoria e há rotatividade no comando. Com votação, há um estreitamento nas relações, a porta sempre fica aberta para que os procuradores tenham acesso ao chefe.
ConJur — O procurador deve receber honorários mesmo não tendo que arcar com o prejuízo se perder a ação?
Luis Carlos Palácios — Hoje, o advogado público paga anuidade à Ordem dos Advogados do Brasil, está subordinado ao Estatuto da OAB, mas não tem o benefício previsto na lei, que é o honorário. A Unafe pleiteia os honorários em Mandado de Segurança alegando isso. Não se pode aplicar a lei apenas na parte conveniente e na outra não. Nossos honorários caem em um cofre único, e não são revertidos sequer para carreiras de apoio. Essa era outro projeto do ministro Toffoli. Uma Medida Provisória determinaria que uma parte dos honorários fosse para a estrutura física da AGU, outra para remuneração de servidores e outra para remuneração do procurador.
ConJur — O advogado público pode exercer advocacia privada?
Luis Carlos Palácios — A Unafe fez votação e houve por bem não mudar isso. A meu ver é correto. Não se pode confundir advocacia pública com privada.
ConJur — No que a OAB tem ajudado?
Luis Carlos Palácios — Estão com o presidente Ophir Cavalcante dois pedidos da maior importância para a AGU: as intervenções da OAB tanto na ADI quanto na Proposta de Súmula Vinculante. Sabemos que a OAB tem suas instâncias de deliberação, e recentemente passamos a questão da dupla vinculação para a comissão de assuntos constitucionais, que teve parecer favorável do conselheiro relator, Zulmar Fachin. Na PSV, conversamos frequentemente com o presidente Ophir para saber sobre o seu encaminhamento. São as bandeiras em que a OAB pode nos ajudar.
ConJur — A presença de ministros do Supremo com origem na advocacia pública, assim como a nomeação do procurador federal Mauro Hauschild para a presidência do INSS, significam que a carreira está sendo prestigiada?
Luis Carlos Palácios — A nomeação de ministros do STF é política. Os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli, antigos advogados-gerais da União, não eram da carreira. Se eventualmente o ministro Adams for escolhido para uma vaga, aí isso pode ter alguma relevância. Quanto ao INSS, o governo está percebendo que há reservas morais e técnicas dentro da advocacia pública, e que o os procuradores têm conhecimento da estrutura administrativa para resolver os problemas.
Fonte: Conjur, de 4/07/2011
Acompanhe o Informativo Jurídico também pelo Facebook e Twitter
O Informativo Jurídico é uma publicação diária da APESP, distribuída por e-mail exclusivamente aos associados da entidade, com as principais notícias e alterações legislativas de interesse dos Procuradores do Estado, selecionadas pela Tsonis Comunicação e Consultoria Ltda. Para deixar de receber o Informativo Jurídico, envie e-mail para apesp@apesp.org.br; indicando no campo assunto: “Remover Informativo Jurídico”.