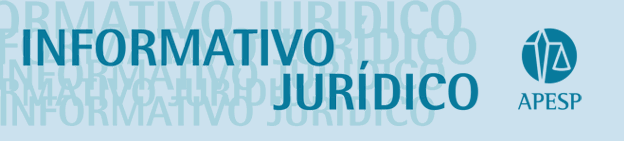
Ago
Estados tentam usar R$ 21 bilhões para custeio
O
Palácio
do
Planalto
espera
uma
decisão
dos
governadores
até
a
próxima
terça-feira
sobre
o
projeto
de
lei
complementar
que
libera
R$
21,1
bilhões
em
depósitos
judiciais
para
os
Estados.
A
presidente
Dilma
Rousseff
pretendia
anunciar
a
sanção
da
proposta
na
reunião
de
anteontem
com
os
chefes
dos
Executivos
estaduais,
mas
os
próprios
governadores
questionam
o
artigo
que
hierarquiza
como
os
gestores
podem
gastar
os
recursos.
Com
dificuldades
de
caixa,
os
governos
estaduais
querem
usar
os
recursos
para
pagar
contas
de
custeio,
como
folha
de
pagamento,
aposentadorias
e
manutenção
de
serviços
públicos
básicos.
A
ideia
é
que
os
governadores
cheguem
a
um
consenso
para
orientar
a
decisão
da
presidente,
que
tem
até
a
próxima
quarta-feira
para
definir
sua
posição
sobre
a
matéria.
A
sanção
da
proposta,
apresentada
pelo
senador
José
Serra
(PSDB-SP),
é
um
afago
do
Planalto
aos
governadores,
em
troca
de
apoio
para
evitar
a
aprovação
de
pautas-bomba
em
tramitação
no
Congresso
Nacional.
No
entanto,
ela
não
agrada
totalmente
à
equipe
econômica.
Os
R$
21,1
bilhões
estão
hoje
depositados
no
Banco
do
Brasil
para
operações
de
crédito
e,
mais
do
que
isso,
podem
ser
segurados
para
garantir
parte
da
meta
do
superávit
primário
(economia
para
o
pagamento
de
juros
da
dívida).
Ainda
assim,
a
decisão
da
presidente
foi
a
de
sancionar
a
lei,
desde
que
os
governadores
cheguem
a
uma
conclusão
de
como
deve
ser
feito.
Auxiliares
da
presidente
disseram
ao
Estado
que
à
União
não
importa
a
maneira
que
esses
recursos
serão
gastos.
O
projeto
de
Serra
dá
preferência
para
o
pagamento
dos
precatórios,
depois
às
dívidas
da
previdência
e
então
aos
investimentos.
A
maior
preocupação
dos
governadores
são
as
despesas
regulares
de
custeio
em
um
momento
de
queda
brusca
de
arrecadação
e
de
retração
na
economia.
Não
há,
no
entanto,
um
consenso
sobre
como
mexer
nessa
hierarquia.
O
artigo
não
pode
ser
vetado
porque
o
projeto
ficaria
incompleto.
Também
não
é
possível
regular
o
tema
com
uma
medida
provisória.
“Está
sendo
formada
uma
comissão
para,
nos
próximos
dias,
chegar-se
a
uma
conclusão
sobre
isso”,
disse
ao
Estado
o
governador
do
Pará,
Simão
Jatene
(PSDB).
O
ministro
da
Fazenda,
Joaquim
Levy,
informou
que
a
tendência
do
governo
é
sancionar
e
“manter
o
projeto
de
lei
complementar
na
sua
essência”,
mas
ressaltou
que
falta
definir
“algumas
questões
técnicas”.
“Cada
Estado
é
um
Estado,
é
difícil
fazer
uma
fôrma
que
sirva
pra
todo
mundo.
Todo
mundo
quer
ter
segurança”,
comentou
Levy,
ao
deixar
a
reunião.
Levy
admitiu
que
para
o
governo
era
melhor
vetar
a
proposta,
já
que
haverá
impacto
negativo
no
superávit
primário,
mas
reconheceu
que
os
governadores
se
sentem
“asfixiados”
com
as
despesas
obrigatórias
e
reclamam
não
ter
recursos
para
investimentos.
O
governo
também
estuda
uma
forma
para
liberar
as
operações
de
crédito
no
exterior
para
Estados
e
municípios,
outra
reivindicação
dos
governadores.
Apesar
de
Dilma
ter
prometido
que
isso
será
feito,
a
liberação
não
será
geral.
Apenas
Estados
que
têm
uma
boa
situação
fiscal
poderão
contrair
esses
empréstimos,
já
que
há
impacto
direto
na
meta
de
superávit
primário.
Existe
também
a
possibilidade
de
que
sejam
liberados
os
recursos
para
obras
que
já
estejam
em
andamento.
O
governo
ainda
vai
analisar,
caso
a
caso,
quem
poderá
ter
as
operações
autorizadas.
Fonte: Estado de S. Paulo, de 1º/08/2015
STF
convoca
audiência
pública
para
debater
uso
de
depósitos
judiciais
O
ministro
Gilmar
Mendes,
do
Supremo
Tribunal
Federal
(STF),
convocou
audiência
pública
para
debater
o
uso
de
depósitos
judiciais
para
o
custeio
de
despesas
públicas.
A
convocação
foi
feita
na
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
(ADI)
5072,
que
discute
legislação
do
Estado
do
Rio
de
Janeiro
que
dispõe
sobre
a
utilização
de
parcela
dos
depósitos
judiciais
para
quitação
de
requisições
judiciais
de
pagamento.
“Discute-se,
portanto,
a
constitucionalidade
de
normas
estaduais
que
possibilitam
aos
entes
da
federação
utilizarem-se
dos
recursos
dos
depósitos
judiciais
e
extrajudiciais,
inclusive
dos
efetuados
em
litígios
nos
quais
não
são
partes,
para
pagamento
de
despesas
diversas
(precatórios,
requisições
de
pequeno
valor,
capitalização
de
Fundos
de
Previdência,
entre
outros)”,
afirma
o
ministro
Gilmar
Mendes,
relator
da
ADI.
O
ministro
ressalta
a
necessidade
da
audiência
pública
tendo
em
vista
as
consequências
que
a
decisão
do
STF
terá
em
relação
às
finanças
públicas,
com
reflexos
na
execução
e
controle
orçamentário
dos
Estados.
Assim,
deverão
ser
ouvidas
autoridades
e
membros
da
sociedade
em
geral
que
possam
contribuir
com
esclarecimentos
técnicos,
contábeis,
administrativos,
políticos
e
econômicos
sobre
o
tema.
Entidades
convidadas
e
demais
interessados
em
participar
da
audiência
pública
devem
requerer
a
inscrição
até
o
dia
28
de
agosto,
por
meio
do
endereço
eletrônico
depositojudicial@stf.jus.br,
com
indicação
dos
respectivos
representantes
e
dos
pontos
a
serem
abordados
na
apresentação.
O
tempo
disponível
para
cada
expositor
será
de
10
minutos.
Diversas
autoridades
federais
e
estaduais,
dos
Tribunais
de
Justiça
e
Tribunais
de
Contas
estaduais
serão
convidados
a
participar.
A
data
prevista
para
a
realização
da
audiência
é
21
de
setembro.
Fonte: site do STF, de 1º/08/2015
Nova
taxa
para
desarquivar
processos
no
TJ-SP
é
declarada
inconstitucional
Uma
falha
legal
derrubou
a
norma
que
fixa
taxas
de
desarquivamento
no
Judiciário
paulista.
A
decisão
partiu
do
próprio
Órgão
Especial
do
Tribunal
de
Justiça
de
São
Paulo,
que
acaba
de
considerar
inconstitucional
a
criação
de
regras
por
ato
administrativo,
e
não
por
lei.
A
corte
atendeu
pedido
da
Associação
dos
Advogados
de
São
Paulo,
representada
pelo
escritório
Dias
de
Souza
Advogados
Associados.
A
decisão
gerou
insatisfação
do
presidente
do
TJ-SP,
desembargador
José
Renato
Nalini,
que
estava
impedido
de
votar
e
assistiu
como
espectador
ao
julgamento
na
sessão
do
órgão
da
última
quarta-feira
(29/7).
O
Provimento
2.195,
assinado
em
2014
pelo
Conselho
Superior
da
Magistratura,
instituiu
a
cobrança
de
R$
24,40
quando
partes
ou
advogados
querem
ver
processos
que
estão
no
Arquivo
Geral,
e
de
R$
13,30,
para
os
autos
engavetados
em
unidades
judiciais.
Acontece
que,
de
acordo
com
a
Constituição
e
o
Código
Tributário
Nacional,
apenas
leis
podem
estipular
valores
de
tributos.
Nalini
avalia
que
a
cobrança
não
entraria
nesse
conceito,
mas
o
desembargador
relator
Antonio
Carlos
Villen
disse
que
o
Superior
Tribunal
de
Justiça
já
reconheceu
a
natureza
tributária
dos
custos
por
serviços
judiciais
(RMS
31.170).
Na
ocasião,
aliás,
a
Corte
Especial
do
STJ
considerou
inconstitucional
outra
portaria
assinada
pela
presidência
do
TJ-SP
em
2003,
que
também
tratava
da
taxa
de
desarquivamento.
A
1ª
Turma
do
Supremo
Tribunal
Federal
manteve
a
tese.
A
diferença
é
que,
na
época,
nenhuma
legislação
tratava
do
tema
na
esfera
paulista.
Agora,
o
tribunal
considerava
correta
a
prática
porque
a
Lei
Estadual
14.838/2012
delegou
ao
Conselho
Superior
de
Magistratura
a
fixação
do
valor
e
sua
atualização
periódica.
Mesmo
assim,
o
relator
considerou
a
estratégia
equivocada
e
concluiu
que
a
nova
norma
violou
o
princípio
da
estrita
legalidade.
A
controvérsia
chegou
a
dividir
opiniões
no
Órgão
Especial,
mas
a
tese
do
desembargador
venceu,
por
maioria
de
votos.
Processo:
2218723-64.2014.8.26.0000
Fonte:
Conjur,
de
31/07/2015
Aos
84
anos,
Augusto
de
Campos
lança
novo
livro
de
poemas
Augusto
de
Campos
não
publicava
um
livro
de
poesia
desde
2003,
quando
saiu
Não.
Mas,
ao
longo
desses
12
anos,
o
poeta
de
84
anos
não
ficou
parado
-
pelo
contrário.
Pesquisador
incansável
das
novas
mídias
eletrônicas,
ele
manteve
seu
interesse
pela
dimensão
“verbivocovisual”
(conceito
emprestado
de
James
Joyce
com
que
os
concretistas
definiam
a
fusão
de
aspectos
visuais,
sonoros
e
verbais
da
poesia)
e
criou
novos
poemas,
reunidos
agora
em
Outro
(Perspectiva),
cujo
lançamento
acontece
na
segunda-feira,
dia
3,
a
partir
das
19
horas,
na
Casa
das
Rosas.
Augusto
é
último
dos
escritores
vivos
do
grupo
Noigandres,
fundado
em
1952
e
do
qual
atuava
juntamente
com
seu
irmão
Haroldo
de
Campos
e
o
amigo
Décio
Pignatari,
dupla
com
quem
fundou
a
revista
do
mesmo
nome.
A
publicação
apostava
em
uma
nova
forma
de
ler
a
literatura
brasileira
e
universal,
priorizando
as
questões
estéticas
e
internas
à
própria
literatura.
Ao
longo
dos
anos,
Augusto
manteve-se
fiel
ao
radicalismo
da
experimentação,
testando
a
destruição
do
verso,
desintegração
da
palavra
e
se
recusando
a
praticar
a
poesia
discursiva.
Em
Outro,
que
traz
texto,
capa,
projeto
e
execução
gráfica
do
próprio
autor,
despontam
poemas
visuais
e
indicações
de
clip-poemas,
que
podem
ser
vistos
na
internet.
Inquieto,
Augusto
de
Campos
habituou-se
a
trabalhar
com
a
palavra,
modificando-a
com
prazer.
Até
mesmo
quando
concede
entrevista,
como
é
no
caso
a
seguir,
feita
por
e-mail.
O
senhor
já
disse
que
não
sabe
se
ainda
faz
poesia
concreta
-
julga-se
hoje
mais
‘pop’.
Como
avalia
essa
trajetória
entre
uma
e
outra?
Em
geral,
identifica-se
a
poesia
concreta
com
a
sua
“fase
ortodoxa”,
que
ocupa
só
a
década
entre
1950
e
60,
balizada
pelo
geometrismo
bauhausiano.
Desde
os
anos
1960,
porém,
além
do
“salto
participante”,
buscamos
caminhos
diferentes,
eu
com
os
“popcretos”
e
a
poesia
aleatória
de
“cidade”,
Décio
com
a
“poesia
semiótica”,
Haroldo
com
o
“prosoema”
das
Galáxias.
A
evolução
tecnológica,
que
lastreou
o
nosso
projeto,
também
o
expandiu
de
forma
a
ultrapassar
os
limites
do
nosso
Plano
Piloto.
Mas
a
poesia
concreta
continua
a
inspirar
os
meus
textos,
embora
sem
as
constrições
iniciais
que
visavam
impor
alguma
ordem
no
caos
a-sintático
das
primeiras
manifestações.
A
lembrança
a
Haroldo
de
Campos,
Décio
Pignatari,
José
Lino
Grünewald
e
Ronaldo
Azeredo,
a
quem
dedica
seu
novo
livro,
faz
acreditar
que,
a
julgar
pela
importância
de
todos,
os
críticos
que
apostaram
contra
seu
grupo
são
hoje
derrotados?
“Toda
vitória
é
uma
grosseria”,
disse
Fernando
Pessoa
pela
voz
do
semi-heterônimo
Bernardo
Soares.
Prefiro
manter
a
“autoridade
do
fracasso”,
com
a
qual
Fitzgerald
contrastou
a
sua
personalidade
com
a
de
Hemingway:
“Você
fala
com
a
autoridade
do
sucesso
-
eu,
com
a
autoridade
do
fracasso”.
Nada
do
que
acontece
com
poesia
pode
ser
considerado
sucesso,
já
que
ela
interessa
a
poucos,
sobrevivendo
numa
espécie
de
gueto
ou
reserva
impopular.
Em
todo
caso,
dada
a
hostilidade
que
a
poesia
concreta
encontrou
por
tanto
tempo,
e
ainda
encontra,
não
deixa
de
ter
um
sabor
especial
o
Prêmio
Interamericano
de
Poesia
Pablo
Neruda,
que
venho
de
receber
e
que
fala
pelos
companheiros
que
já
se
foram.
Pois,
ao
publicar
o
poema
Pós-tudo,
não
fui
acusado
de
“delírio
de
grandeza”
e
a
poesia
concreta
de
“bobagem
provinciana”?
Haroldo
formulou
o
conceito
de
pós-utópico.
Hoje,
o
senhor
faria
distinção
entre
pós-moderno
e
pós-utópico?
Nunca
simpatizei
com
o
termo
“pós-moderno”.
“Pós-tudo”
o
satirizava,
por
implosão
conceitual.
Transferido
da
arquitetura
para
a
literatura,
serviu
mais
de
álibi
para
um
retro-moderno.
A
poesia
continua,
no
que
tem
de
melhor,
a
orientar-se
pelo
giro
do
alto-modernismo.
Haroldo
plantou
o
seu
conceito
de
pós-utópico
na
falência
das
utopias
ideológicas
no
século
passado.
Achava
que
não
havia
mais
motivação
para
movimentos.
Daí
a
sua
idéia
de
“agoridade”.
Eu
sou
mais
renitente
quanto
às
utopias,
acho
que
merecemos
continuar
apostando
nelas,
por
mais
que
os
fatos
nos
desanimem.
Sou
mais
pessimista
com
o
“agora”.
Temo
que
sirva
de
abrigo
a
retornos
indesejáveis.
Meu
lema
é:
ser
radical
sem
ser
fanático,
aberto
sem
ser
eclético.
O
senhor
acredita
que
seja
desejável
uma
atividade
vanguardista
hoje?
A
vanguarda
não
teria
se
mercantilizado?
Qual
deveria
ser
a
postura
da
vanguarda
agora?
Sempre
haverá
os
que
gostam
de
explorar
territórios
desconhecidos
da
linguagem
-
os
“vanguardistas”,
que
Pound
chamava
de
“inventores”
-
e
os
que
se
dedicam
a
aperfeiçoar
a
linguagem
já
codificada
-
os
“mestres”.
São
tipos
de
intervenção
relativos
e
intercambiáveis.
Mas
a
poesia
se
faz
de
muitas
vozes
e
em
vários
níveis.
Não
vejo
mercantilização
nas
vanguardas
da
poesia.
Autores
de
vanguarda
jamais
se
encontram
na
lista
dos
“best
sellers”
e
têm
de
passar
por
um
longo
corredor
polonês
antes
de
serem
reconhecidos
quando
longevos
ou
de
preferência
“post
mortem”,
quando
incomodam
menos.
É
curiosa
a
presença
do
poema
Brazilian
‘Football’‚
em
nova
versão
no
livro.
O
que
mais
o
motivou
a
reescrever:
a
Copa
do
Mundo
no
Brasil
no
ano
passado
ou
os
50
anos
do
golpe
militar,
ambos
no
ano
passado?
O
poema
foi
publicado
em
setembro
de
1964,
no
número
que
o
Times
Literary
Supplement
de
Londres
dedicou
às
novas
vanguardas
e
à
poesia
concreta
brasileira.
O
“futebol”,
entre
aspas,
era
só
um
pretexto
para
denunciar
o
golpe
militar.
O
poema
aludia
às
conquistas
brasileiras
nos
Mundiais
de
1958
e
1962,
com
o
grito
de
GOAL
GOAL
GOAL,
e
o
revertia
em
1964
para
GAOL
GAOL
GAOL
(o
mesmo
que
“jail”,
prisão).
Lembrei-me
dele
quando
organizava
os
poemas
para
o
novo
livro.
Nada
a
ver
com
a
Copa
do
Mundo.
Eu
queria
era
“descomemorar”
a
ditadura.
O
livro
traz
também
traduções
de
autores
que
são
referência
para
o
senhor,
como
Mallarmé,
poetas
que
se
concentram
nos
“inventores”,
segundo
a
classificação
poundiana.
Como
o
senhor
formou
estas
afinidades
eletivas
e
como
dialoga
com
sua
criação?
Discute-se
muito
hoje
nos
Estados
Unidos
a
tendência
denominada
“unoriginal
language”,
linguagem
não-original.
Desde
os
anos
60
e
70,
venho
realizando
uma
espécie
de
intervenção
crítico-poética,
as
“intraduções”
e
“profilogramas”,
com
imagens
ou
textos
alheios
remanejados
sob
a
forma
de
tradução
ou
de
interpretação
gráfica.
Do
Profilograma
Pound/Maiakovski
ao
recente
Profilogramallarmé.
É
uma
forma
de
diálogo-homenagem.
O
senhor
sempre
gostou
de
variar
os
suportes
para
sua
obra,
do
livro-objeto
à
animação
digital.
Quais
são
seus
interesses
atuais?
A
partir
da
década
de
1990,
passei
a
trabalhar
com
recursos
da
linguagem
digital.
O
livro
permanece
um
veículo
relevante,
mas
me
interesso
muito
por
outras
formas
de
apresentação,
suportes
cinéticos
e
interdisciplinares
que
a
tecnologia
hoje
proporciona
em
variantes
multiformes.
A
poesia
concreta
apontava
há
mais
de
meio
século
para
esses
caminhos,
“sem
prever
do
futuro”
o
quanto
a
fulminante
revolução
digital
das
últimas
décadas
confirmaria
as
suas
intuições.
OUTRO
Autor:
Augusto
de
Campos
Editora:
Perspectiva
(120
págs.,
R$
59)
Lançamento:
Casa
das
Rosas.
Avenida
Paulista,
37.
Dia
3/8,
19h
Fonte: Estado de S. Paulo, de 1º/08/2015
Comunicado
do
Conselho
da
PGE
Fonte: D.O.E, Caderno Executivo I, seção PGE, de 1º/08/2015
Comunicado
do
Centro
de
Estudos
Fonte: D.O.E, Caderno Executivo I, seção PGE, de 1º/08/2015
A
Condição
de
humanidade
e
Homo
Sapiens
Por
GABRIEL
DA
SILVEIRA
MENDES
Desde
a
revolução
francesa
a
ideia
de
direitos
humanos
foi
concebida
como
uma
espécie
de
direito
que
ultrapassa
convenções
culturais
e
fronteiras,
uma
vez
que
toma
por
base
a
concepção
de
natureza
humana.
Essa
ideia
deu
base
à
Declaração
Universal
dos
Direitos
Humanos
e
também
ao
desenvolvimento
de
direitos
ligados
à
simples
condição
de
“humanidade”
–
conferida
ao
espécime
homo
sapiens.
Na
luta
pela
reivindicação
de
direitos,
e
baseado
no
postulado
da
igualdade,
foram
derrubados
determinados
privilégios
que
beneficiavam
a
algumas
parcelas
em
detrimento
de
outras
histórico-socialmente
excluídas
em
algum
sentido.
É/era
costumeiro
que
pessoas
situadas
em
classes
mais
favorecidas
se
sintam/sentissem
ameaçadas
pelo
avanço
dos
direitos
das
minorias.
Ocorre
que
o
fim
de
‘privilégios’
não
repercute
em
uma
necessária
diminuição
do
status
de
um,
mas
na
extensão
ao
desfavorecido
de
condições
equânimes
–
em
especial
aquelas
ligadas
a
uma
existência
digna.
No
entanto,
nos
dias
de
hoje,
parece
que
a
maior
parte
da
população
ainda
não
consegue
compreender
essa
concepção
sobre
direitos
humanos
–
ou
,
talvez,
a
profundidade
dessa
ideia
no
dia-a-dia.
Depois
de
tanto
tempo,
parece
assustador
que
o
discurso
dos
direitos
humanos
tenha
se
esvaído
em
uma
conotação
pejorativa
que
tenta
confundir
minorias
com
“vitimismo”,
ou
apenas
reconhece
os
direitos
humanos
aos
“humanos
direitos”.
O
primeiro
passo
então
é
reconhecer
em
todos
os
outros
a
condição
de
humano,
que
conferem,
por
exemplo,
o
direito
a
um
julgamento
justo
(evitando-se
linchamentos)
ou
o
pleno
exercício
de
direitos
civis.
O
segundo
é
reconhecer
as
distorções
de
nossa
sociedade
que
afligem
grupos
historicamente
menos
favorecidos
(as
“minorias”).
A
concepção
dos
direitos
humanos
esta
relacionado
com
a
percepção
de
que
a
mínima
condição
humana
já
é
capaz
de
auferir
àquele
espécime
uma
série
de
direitos
que
lhe
confiram
uma
vida
minimamente
digna.
Assim,
entender
os
direitos
humanos
é
compreender
que
qualquer
violação
a
esse
grupo
de
direitos
repercute
em
violação
à
condição
mínima
de
dignidade
que
deve
ser
conferida
a
qualquer
sujeito
humano.
A
violação
de
direitos
humanos
repercute,
assim,
na
negativa
da
condição
de
humanidade
ao
próximo.
Se
um
humano
tem
sua
condição
de
humanidade
negada
–
o
que
envolve
o
pleno
exercício
de
direitos
civis
como
o
casamento
(independente
de
orientação
sexual/religião)
–
é
como
se
toda
a
humanidade
fosse
atingida,
porque
não
foram
respeitados
os
atributos
mínimos
ligados
à
condição
humana.
No
entanto,
o
que
se
percebe
hoje
é
que,
infelizmente,
os
direitos
humanos
acabam
sendo
relativizados
seja
em
razão
de
uma
polarização
equivocada
(direita/esquerda),
seja
em
razão
da
ignorância
/resistência
dos
interlocutores.
Na
guerra
fria,
enquanto
nos
países
‘socialistas’
o
direito
à
autonomia
privada
e
à
liberdade
de
expressão
era
limitado,
em
países
‘capitalistas’
o
acesso
à
educação
e
a
igualdade
de
oportunidade
eram
cerceados
pelo
abismo
sócio-econômico.
Nesse
contexto,
pairavam
as
acusações
recíprocas
de
violações.
A
partir
da
crítica
a
esse
paradigma
é
que
os
direitos
humanos
foram
reconcebidos
para
serem
exercidos
em
sua
integralidade.
Isso
quer
dizer
que
o
cumprimento
de
alguns
direitos
não
autoriza
ou
legitima
o
descumprimento
de
outros.
Mais
além,
repercute
que
o
descumprimento
de
normas
de
direitos
humanos,
ainda
que
sejam
em
uma
parcela,
repercute
em
negar
sua
humanidade
–
essa,
que
não
pode
ser
exercida
de
maneira
parcial.
De
outro
lado,
há
a
ignorância
e
a
resistência,
retroalimentadas
pelo
discurso
de
ódio
que
divide
a
sociedade
em
“pessoas
de
bem”
e
no
resto.
Esses
aspectos
costumam
estar
mais
relacionados
ao
desenvolvimento
do
comportamento
social
e
aos
aspectos
culturais
que
abraçam
dogmas
(religiosos
ou
morais)
e
condenam
a
estranheza
do
padrão
de
conduta
que
é
divergente.
Se
de
um
lado
isso
justifica
enquetes
formuladas
por
parlamentares
a
respeito
do
conceito
de
família
(decorrente
da
união
de
homem
e
mulher),
também
já
justificou
aplicação
de
punições
de
apedrejamento
em
mulheres
no
oriente
médio
ou
até
a
aplicação
de
penas
severas
como
a
crucificação
em
épocas
remotas
no
Oriente
Médio.
Ainda
que
os
dogmas
tenham
sua
particular
relevância
no
desenvolvimento
da
sociedade/cultura/religião,
esses
jamais
poderiam
ser
utilizados
para
negar
a
natureza
de
humanidade
(e
direitos
mínimos)
que
é
inerente
a
cada
humano.
Por
isso
é
necessário
expandir
a
consciência
para
jamais
permitir
que
qualquer
entrave
obste
ao
reconhecimento
dessa
condição
de
humanidade.
Talvez
essa
deva
ser
a
nossa
grund
Norm
(norma
hipotética
fundamental),
concebida
a
partir
do
direito
natural
relativo
ao
reconhecimento
de
uma
condição
imanente
ao
espécime
homo
sapiens.
GABRIEL
DA
SILVEIRA
MENDES.
É
membro
do
grupo
Olhares
Humanos,
procurador
do
Estado
de
São
Paulo
e
pós-graduado
em
Direito
do
Estado
pela
JusPodium.
Fonte: Blog Olhares Humanos, 31/07/2015
"Até
o
final
de
2015,
toda
a
Justiça
do
Trabalho
usará
o
PJe"
A
Lei
do
Inquilinato,
que
regula
o
mercado
de
aluguéis
residenciais
e
comerciais,
de
1991,
permitiu
que,
pela
primeira
vez,
um
ato
processual
por
meio
de
fax.
O
tempo
avançou,
as
máquinas
de
fax
estão
quase
extintas,
os
computadores
se
tornaram
cada
vez
mais
presentes
na
vida
dos
cidadãos
e
o
Congresso
Nacional
foi
forçado
a
pensar
uma
lei
que
versasse
sobre
o
processo
judicial
informatizado,
o
que
resultou
na
Lei
11.419/2006.
Os
parâmetros
foram
estabelecidos
e
aguardou-se
um
protagonista
topar
o
desafio
surfar
na
novidade.
Há
três
anos
e
meio,
a
Justiça
do
Trabalho
assumiu
as
rédeas
e
está
hoje
na
vanguarda
do
Processo
Judicial
Eletrônico.
Em
junho
de
2015,
mais
de
80%
das
varas
do
Trabalho
já
estavam
operando
no
PJe-JT.
São
quatro
milhões
e
meio
de
processos
de
primeiro
grau
na
base
de
dados
e
300
mil
processos
na
segunda
instância,
cujos
24
tribunais
já
operam
na
nova
plataforma.
Dados
da
Coordenadoria
Nacional
do
PJe-JT
apontam
que
um
processo
eletrônico
leva
169
dias
na
primeira
instância,
enquanto
o
físico
leva
380
dias.
Praticamente
o
dobro
do
tempo.
A
reportagem
do
Anuário
da
Justiça
do
Trabalho,
que
acaba
de
ser
lançado,
conversou
com
a
desembargadora
do
Tribunal
Regional
do
Trabalho
da
15ª
Região
(Campinas)
Ana
Paula
Pellegrina
Lockmann
sobre
os
desafios
e
as
dificuldades
de
tornar
possível
um
projeto
dessa
envergadura.
Ela
é
a
coordenadora
nacional
do
Sistema
do
PJe-JT,
criado
pelo
Tribunal
Superior
do
Trabalho,
e
diz
que
tem
trabalhado
de
14
a
15
horas
por
dia
e
viajado
o
país
para
dar
conta
das
demandas
do
PJe.
“Todos
os
tribunais
têm
trazido
sugestões
para
trabalharmos
com
novas
funcionalidades,
novas
ferramentas.
Isso
é
muito
importante”,
diz
Lockmann.
Além
da
agilidade
para
peticionar
e
dar
andamento
a
um
ato
processual,
a
economia
de
papel
é
imensa
e
tornam
os
gabinetes
e
secretarias
mais
arejados,
sem
pilhas
e
pilhas
de
processos.
“É
uma
quebra
de
paradigma.
A
Justiça
do
Trabalho
está
na
vanguarda
desse
processo,
também
não
tenho
dúvida
disso.
Não
existe
no
mundo
um
projeto
dessa
magnitude,
não
existe
paralelo.
Existem
vários
países
com
processos
eletrônicos,
com
projetos
do
Judiciário
informatizado,
mas
não
existe
um
processo
judicial
eletrônico
com
essa
amplitude”,
afirma
a
desembargadora.
Leia
a
entrevista:
ConJur
—
Como
se
deu
o
início
do
PJe
na
Justiça
do
Trabalho?
Ana
Paula
Lockmann
—
Em
2010,
o
Conselho
Nacional
de
Justiça
lançou
o
sistema
processual
eletrônico
como
uma
nova
forma
de
atuar
no
Poder
Judiciário
do
Brasil,
que
seria
por
meio
do
Processo
Judicial
Eletrônico.
E
a
Justiça
do
Trabalho,
por
meio
de
um
termo
de
cooperação
técnica,
aderiu
ao
sistema
Processo
Judicial
Eletrônico
no
ano
seguinte
e
as
administrações
do
Tribunal
Superior
do
Trabalho
entenderam
como
prioritário
adotar
o
PJe
nas
suas
administrações.
Nos
tribunais
regionais
do
trabalho,
nas
varas
do
trabalho,
adotou-se
o
PJe
como
diretriz
prioritária.
Em
dezembro
de
2011,
a
1ª
Vara
do
Trabalho
de
Navegantes,
em
Santa
Catarina,
foi
a
primeira
a
receber
o
PJe,
na
fase
de
conhecimento.
ConJur
—
E
por
que
em
Navegantes?
Ana
Paula
Lockmann
—
Foi
uma
decisão,
na
época,
da
administração
do
TST
em
conjunto
com
o
Tribunal
Regional
do
Trabalho
da
12ª
Região.
Não
saberia
informar
o
porquê
de
ter
sido
escolhida
Navegantes,
mas
foi
na
época
a
escolha
da
administração
do
TST.
Com
isso,
em
dezembro
de
2015,
vamos
completar
quatro
anos
de
implantação
do
PJe
na
Justiça
do
Trabalho.
E
hoje
nós
podemos
dizer
que
81%
das
varas
e
100%
dos
TRTs
já
trabalham
com
o
PJe.
ConJur
—
Pelo
ritmo
de
implementação,
até
o
final
do
mandato
do
ministro
Barros
Levenhagen,
que
se
encerra
em
fevereiro
de
2016,
o
PJe
estará
implantado
em
100%
das
varas?
Ana
Paula
Lockmann
—
O
prognóstico
é
que
estejamos,
se
não
em
100%,
muito
próximo
de
100%.
Hoje
temos
1.257
varas
que
já
usam
o
sistema
PJe.
A
Justiça
do
Trabalho
está
na
vanguarda
na
instalação
do
PJe,
isso
é
evidente.
Se
verificarmos
um
mapa
em
relação
às
demais
Justiça
vamos
verificar
que
é
quase
80%
em
relação
às
demais.
ConJur
—
Apesar
desse
avanço,
juízes
e
desembargadores
ainda
têm
muitos
processos
em
papel
para
julgar.
Em
quanto
tempo
as
varas
e
os
tribunais
eliminarão
completamente
os
processos
físicos
na
Justiça
do
Trabalho?
Ana
Paula
Lockmann
—
É
um
prognóstico
arriscado,
mas
acredito
que
seja
rápido.
Todos
sabem
que
a
Justiça
do
Trabalho
é
muito
célere.
O
problema
é
que
há
certa
disparidade
entre
tribunais.
Alguns
já
estão
totalmente
no
PJe,
outros
ainda
estão
em
fase
de
migração
para
o
sistema.
Então,
sem
dúvida
nenhuma,
haverá
uma
diferença
de
período.
Hoje,
15
tribunais
se
encontram
100%
no
PJe.
ConJur
—
Há
previsão
para
que
haja
diálogo
entre
o
sistema
da
Justiça
do
Trabalho
e
o
do
Ministério
Público
ou
de
outros
ramos
da
Justiça?
Ana
Paula
Lockmann
—
Cada
Justiça
acabou
tomando
o
seu
próprio
caminho.
Havia
um
projeto
do
Conselho
Nacional
de
Justiça
de
unificação,
que
está
sendo
retomado
agora
com
o
Escritório
Digital.
Em
breve,
os
advogados
poderão
peticionar
qualquer
tipo
de
processo
por
meio
dessa
plataforma.
Na
Justiça
do
Trabalho,
já
no
segundo
semestre
deste
ano,
vamos
começar
a
usar
um
MNI
[modelo
nacional
de
interoperabilidade],
desenvolvido
em
parceria
pelo
TST
e
o
TRT
da
18ª
Região,
em
Goiás.
Com
isso,
vamos
unificar
os
sistemas,
inclusive
com
o
Ministério
Público
do
Trabalho,
com
a
Advocacia-Geral
da
União.
Estamos
trabalhando
em
paralelo
ao
CNJ
pela
unificação
dos
sistemas
na
Justiça
do
Trabalho.
Por
estarmos
na
vanguarda,
não
podemos
parar
o
nosso
desenvolvimento.
Mas
também
estamos
trabalhando
em
conjunto
com
a
Justiça
Estadual
e
a
Justiça
Federal.
ConJur
—
Como
os
gabinetes,
as
varas
e
as
secretarias
tiveram
que
mudar
para
se
adaptar
ao
processo
eletrônico?
Ana
Paula
Lockmann
—
Aqui
no
TRT-15,
passamos
a
fazer
as
intimações
dentro
do
próprio
gabinete.
Antes
eram
feitas
pela
secretaria
da
turma.
Muito
do
trabalho
que
era
feito
pelas
secretarias
passou
a
ser
feito
dentro
dos
gabinetes
dos
desembargadores.
Depois
da
decisão,
o
próprio
gabinete
libera
o
processo
para
a
manifestação
do
Ministério
Público
do
Trabalho.
As
cartas
precatórias
agora
são
eletrônicas.
Houve
uma
mudança
da
logística
do
trabalho.
ConJur
—
Vemos
que
os
magistrados
agora
trabalham
com
duas
telas
de
computador,
uma
horizontal
e
outra
na
vertical...
Ana
Paula
Lockmann
—
É
um
exercício
mental,
antes
de
mais
nada.
É
uma
nova
forma
de
trabalhar
consigo
mesmo
e
é
difícil
de
ser
trabalhado,
porque
é
aquela
mudança
da
máquina
de
escrever
para
computador
é
a
mudança
do
físico
para
o
virtual.
Não
é
fácil.
Pelo
menos
digo
isso
por
minha
experiência
pessoal.
Para
mim,
que
examinava
uma
prova
marcando-a
muitas
vezes
com
uma
caneta,
passar
a
examinar
os
autos
numa
tela
de
computador
não
é
fácil.
É
um
novo
exercício
mental
que
deve
ser
feito,
não
é
fácil.
Por
mais
que
existam
marcadores
no
computador,
no
próprio
sistema,
é
muito
difícil
você
se
habituar
com
essa
nova
forma
de
enxergar
o
processo,
virtualmente,
principalmente
quando
é
muito
grande.
Antigamente,
o
processo
tinha
um,
dois
volumes.
Hoje
não
se
vê
um
processo
com
menos
de
dois,
três
volumes.
Todo
mundo
copia
e
cola
textos
de
doutrina,
textos
de
jurisprudência
e
não
se
copia
uma,
copia-se
dez,
o
que
acho
um
absurdo.
O
juiz
não
quer
quantidade.
O
juiz
não
vai
decidir
por
quilo.
O
juiz
vai
decidir
com
uma
peça
bem
fundamentada,
com
uma
boa
doutrina,
com
uma
jurisprudência
específica.
E
não
porque
ela
tem
mais
jurisprudência,
ela
tem
dez,
20,
30
jurisprudências
citadas.
Se
tiver
uma,
duas
jurisprudências,
específicas
e
boas,
é
o
suficiente.
Examinar
processos
com
dois,
cinco,
dez
volume
é
muito
difícil.
E
muitas
vezes
estão
mal
digitalizados.
ConJur
—
Muitos
advogados
dizem
que
a
queda
do
sistema
é
recorrente.
Se,
por
causa
disso,
o
advogado
perder
o
prazo
para
algum
ato
processual,
ele
tem
algum
artifício
para
provar
que
o
sistema
estava
fora
do
ar?
O
cliente
dele
acaba
sendo
prejudicado.
Ana
Paula
Lockmann
—
Nós
tivemos
um
problema
no
ano
passado
no
Rio
de
Janeiro
de
instabilidade
no
sistema.
Nesse
primeiro
ano
de
gestão
da
atual
administração,
trabalhamos
na
estabilidade
do
sistema,
passamos
muitos
meses
trabalhando
efetivamente
na
questão
da
performance.
Hoje
eu
posso
dizer
que
a
estabilidade
do
sistema
PJe
é
tranquila.
ConJur
—
Em
todo
o
Brasil?
Ana
Paula
Lockmann
—
Em
todo
o
Brasil.
É
claro
que
pode
haver
questões
pontuais.
Por
exemplo,
o
sistema
estar
fora
do
ar
para
manutenções
corretivas
acontece
praticamente
em
todos
os
finais
de
semana.
Todas
as
vezes
que
o
sistema
sai
do
ar,
isso
é
muito
importante
que
seja
informado,
o
tribunal
deve
expedir
uma
certidão
dizendo
que
o
sistema
está
indisponível
e
prorrogando
os
prazos
para
o
primeiro
dia
útil
até
a
resolução
do
problema.
Essa
certidão
deve
ficar
acessível
no
site
do
tribunal.
Essa
foi
a
forma
encontrada
para
que
ninguém
seja
prejudicado,
nem
o
jurisdicionado,
nem
o
advogado.
ConJur
—
Como
os
juízes,
desembargadores
têm
de
lidar
com
as
dificuldades
dos
advogados
em
usar
o
processo
eletrônico?
É
preciso
ser
flexível?
Ana
Paula
Lockmann
—
Essa
é
uma
questão
jurisdicional,
antes
de
mais
nada.
Eu
interpreto
que
o
advogado,
por
exemplo,
pode
erroneamente
colocar
sigilo
no
processo
e
impedir
a
outra
parte
de
ver
um
recurso.
Mas
esse
erro
não
necessariamente
será
motivo
para
revelia.
O
juiz
pode
simplesmente
retirar
o
sigilo
e
dar
prosseguimento
ao
caso.
ConJur
—
Muitos
problemas
têm
surgido
em
relação
ao
sigilo
do
processo?
Ana
Paula
Lockmann
—
O
processo
eletrônico
é
muito
novo
para
todo
mundo,
para
os
juízes,
para
os
advogados,
para
todos
nós.
São
apenas
três
anos
e
meio
de
uma
nova
forma
de
encarar
o
processo.
Desde
que
o
mundo
é
mundo
tudo
funciona
no
papel,
a
gente
escreve,
peticiona,
pedimos,
reclamamos.
E,
de
uma
hora
para
outra,
80%
da
Justiça
está
funcionando
virtualmente.
A
questão
do
sigilo
parece
que
ainda
não
está
totalmente
clara.
ConJur
—
Por
quê?
Ana
Paula
Lockmann
—
Vamos
pensar
no
processo
físico.
Na
audiência,
a
empresa
leva
a
defesa
por
escrito.
O
juiz
propõe
a
conciliação.
O
artigo
847
da
CLT
diz
que,
se
não
houver
conciliação,
a
empresa
tem
20
minutos
para
apresentar
a
defesa.
Isso
porque
antigamente
o
advogado
fazia
a
defesa
oralmente.
Hoje
em
dia,
a
praxe
é
apresentar
a
defesa
por
escrito
ao
juiz.
E
no
processo
eletrônico?
Como
ele
tem
que
encaminhar?
Para
isso
criamos
o
sigilo
de
peças
e
documentos.
O
advogado
da
empresa
manda
a
defesa,
mas
põe
o
sigilo.
Se
não
houver
conciliação,
o
juiz
tira
o
sigilo
e
a
defesa
é
apresentada
dentro
do
prazo.
Simples
assim.
ConJur
—
Na
prática,
tem
sido
simples?
Ana
Paula
Lockmann
—
Os
magistrados
têm
interpretações
diferentes
em
relação
ao
sigilo.
A
ideia
de
criar
o
sigilo
foi
justamente
para
não
ferir
o
artigo
847
da
CLT.
E
alguns
juízes
não
têm
entendido
dessa
forma.
Mas
é
uma
questão
jurisdicional.
Eu,
como
magistrada,
entendo
que
o
advogado
pode
também
fazer
interpretações
errôneas
do
sigilo.
A
todos
nós
cabe
ter
bom
senso
no
momento
de
decidir,
para
não
adotarmos
uma
atitude
de
maior
impacto.
E,
em
vez
de
adotarmos
a
prática
de
revelia,
entender
que
houve
um
equívoco
e
simplesmente
retirar
o
sigilo.
ConJur
—
Com
o
PJe,
os
processos
têm
chegado
com
maior
rapidez
para
os
juízes?
Ana
Paula
Lockmann
—
O
PJe
traz
uma
celeridade
maior,
não
se
tenha
dúvidas.
O
processo
caminha
mais
rápido,
porque
não
precisa
ser
retirado
de
um
lugar
para
ir
para
outro.
Um
simples
clique
faz
com
que
se
desloque
de
um
determinado
local
para
outro.
Há
supressão
de
trabalhos
que
nos
processos
físicos
precisavam
ser
feitos.
Mas
há
uma
questão
que
precisa
ser
dita:
o
juiz
continua
sendo
um
só.
O
juiz
continua
precisando,
a
meu
ver,
dar
uma
sentença
com
responsabilidade,
uma
sentença
fundamentada,
uma
sentença
coerente,
com
base
nas
provas
que
foram
apresentadas.
E
o
dia
do
juiz
continua
tendo
24
horas.
É
muito
importante
que
não
se
espere
que
ele
possa
atuar
de
uma
forma
tão
mais
célere
do
que
acima
das
forças
dele.
Então,
o
processo,
sem
dúvida
nenhuma,
é
mais
célere.
A
caixinha
do
juiz
no
PJe
vai
estar
cada
vez
mais
cheia,
vai
chegar
mais
rápido
para
ele.
ConJur
—
Ele
tem
que
se
reorganizar...
Ana
Paula
Lockmann
—
O
magistrado
que
não
for
organizado,
vai
ter
uma
dificuldade
evidente
a
partir
de
agora,
ele
vai
ter
um
sofrimento
interno
maior.
O
magistrado
vai
sofrer,
consigo
mesmo,
vai
ter
um
conflito
interno,
a
caixinha
dele
não
vai
parar
de
ter
um
número
de
processos
para
despachar.
E
ele
é
uma
pessoa
só.
É
isso
que
a
sociedade
precisa
ter
em
mente:
ele
continua
sendo
o
mesmo
magistrado,
o
mesmo
ser
humano,
com
a
mesma
capacidade
e
precisando
dar
uma
sentença
fundamentada,
valorosa,
com
qualidade.
Não
se
espera
uma
decisão
rápida,
mas
uma
decisão
com
qualidade,
com
fundamento.
ConJur
—
O
processo
eletrônico
é
acessível
para
advogados
cegos?
Ana
Paula
Lockmann
—
O
sistema
do
PJe
na
Justiça
do
Trabalho
é
acessível
hoje
aos
cegos
por
meio
do
teclado.
Ele
tem
como
acessar,
tem
como
atuar,
pode
acessar,
pode
despachar
no
PJe.
Pode
tranquilamente
trabalhar.
Um
dos
nossos
servidores
do
TST,
de
TI
[tecnologia
da
informação],
é
cego
e
foi
ele
quem
desenvolveu
a
funcionalidade,
o
sistema
para
que
o
deficiente
visual
possa
se
habilitar
e
navegar.
ConJur
—
O
novo
Código
de
Processo
Civil
traz
alterações
em
relação
ao
processo
eletrônico?
Ana
Paula
Lockmann
—
A
maior
parte
das
previsões
feitas
pelo
novo
CPC
em
relação
ao
PJe
já
estavam
previstas
na
Lei
11.419,
de
2006,
que
trata
justamente
sobre
a
informatização
do
processo
judicial.
ConJur
—
Mas
traz
algo
de
novo?
Ana
Paula
Lockmann
—
A
indisponibilidade
do
sistema.
A
prorrogação
do
prazo
para
o
primeiro
dia
útil
seguinte
à
resolução
do
problema.
Então,
se
o
advogado
tem
problema,
está
no
CPC,
o
prazo
é
estendido.
Outros
destaques
são
videoconferência
e
a
videoaudiência.
Mas
o
que
o
CPC
não
regulamentar,
cabe
ao
CNJ
e
o
Conselho
Superior
da
Justiça
do
Trabalho
regulamentar.
ConJur
—
Como
foi
a
capacitação
dos
juízes
e
servidores
para
o
uso
do
PJe?
Quais
foram
as
dificuldades
iniciais?
Ana
Paula
Lockmann
—
Todos
encaramos
o
PJe
como
um
grande
desafio.
Para
usarmos
qualquer
novo
sistema,
precisamos
de
capacitação.
A
boa
capacitação
é
a
chave
do
sucesso
ou,
pelo
menos,
é
uma
das
chaves
do
sucesso.
Seja
a
capacitação
do
usuário
interno
do
sistema,
seja
do
usuário
externo,
dos
advogados,
dos
procuradores,
dos
servidores,
dos
magistrados.
Se
não
houver
uma
boa
capacitação,
podemos
ter
o
melhor
sistema,
a
melhor
ferramenta,
mas
não
vamos
aproveitar
o
máximo
que
ela
pode
oferecer.
ConJur
—
A
capacitação
é
definida
por
cada
tribunal
ou
é
uma
deliberação
do
Comitê
Nacional?
Ana
Paula
Lockmann
—
As
capacitações
têm
que
ser
feitas
regionalmente.
Cada
região
tem
as
suas
peculiaridades.
Por
mais
que
o
sistema
seja
único,
não
podemos
nos
imiscuir
totalmente
nas
regiões.
Existem
diretrizes
básicas
que
devem
ser
seguidas,
em
termos
de
infraestrutura
do
sistema,
mas
não
interferirmos
na
forma
de
dar
capacitação.
Não
teríamos
nem
condições,
porque
a
nossa
equipe
é
pequena
e
a
Justiça
do
Trabalho
é
muito
grande.
ConJur
—
Como
foi
a
capacitação
no
TRT
de
Campinas,
onde
a
senhora
é
desembargadora?
Ana
Paula
Lockmann
—
A
capacitação
foi
realizada
nas
salas
do
Pleno
e
nas
salas
das
sessões.
Os
desembargadores
foram
convidados
para
cursos
ministrados
por
servidores,
que
demonstraram
como
funciona
o
sistema
do
segundo
grau.
Não
precisamos
conhecer
o
funcionamento
de
todo
o
sistema,
como
o
do
primeiro
grau,
por
exemplo.
ConJur
—
Os
servidores
aprenderam
com
quem
a
usar
o
PJe?
Ana
Paula
Lockmann
—
Foram
para
o
TST,
se
formaram
lá
e
voltaram
para
cá.
É
um
intercâmbio
de
informações.
Alguns
servidores
vão
ao
TST,
recebem
informações,
e
depois
formam
os
outros
servidores.
ConJur
—
Há
a
preocupação
de
se
atualizar
constantemente
o
sistema
para
aprimorá-lo?
Ana
Paula
Lockmann
—
Estabelecemos
um
regramento,
com
as
datas
em
que
haverá
uma
nova
versão,
para
que
não
haja
surpresas
para
os
tribunais.
Até
esse
ato,
não
se
sabia
quando
seria
apresentada
uma
nova
versão.
Então,
no
ano
passado
estabelecemos
as
datas
em
que
serão
liberadas
as
atualizações,
que
agora
acontecem
mensalmente.
Às
vezes,
a
nova
versão
apenas
corrige
erros.
Em
outras,
traz
novas
funcionalidades,
melhorias,
aprimoramentos.
É
a
mesma
lógica
dos
celulares
e
computadores.
Em
julho,
fizemos
um
workshop
para
tratar
da
nova
versão,
que
traz
funcionalidades
que
merecem,
mais
do
que
um
manual,
uma
explicação
ao
vivo
e
a
cores.
ConJur
—
Pode
dar
um
exemplo
de
nova
funcionalidade?
Ana
Paula
Lockmann
—
A
pauta
de
audiências
do
juiz
de
primeiro
grau.
É
toda
nova.
Só
o
manual
terá
50
páginas.
Será
muito
mais
interativa.
Mas
se
o
juiz
e
o
servidor
não
souberem
usá-la,
podem
acabar
se
perdendo
nos
processos,
vão
ter
prejuízos.
É
a
mesma
coisa
que
comprar
um
telefone
de
ponta
e
não
saber
usá-lo.
Não
tem
sentido.
Fonte:
Conjur,
de
2/08/2015
O Informativo Jurídico é uma publicação diária da APESP, distribuída por e-mail exclusivamente aos associados da entidade, com as principais notícias e alterações legislativas de interesse dos Procuradores do Estado, selecionadas pela C Tsonis Produção Editorial. Para deixar de receber o Informativo Jurídico, envie e-mail para apesp@apesp.org.br; indicando no campo assunto: “Remover Informativo Jurídico”.